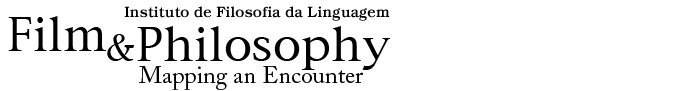(João Mário Grilo)
Crítico de cinema francês, nascido em Angers, em 18 de Abril de 1918, e falecido em Nogent-sur-Marne, a 11 de Novembro de 1958. Na sequência de uma activa participação na fundação e animação de cine- clubes, em França, mas também na Alemanha, Argélia e Marrocos, e de colaborações significativas como crítico e pensador de cinema em revistas como L'écran français, Le Parisien libéré e Esprit, para além da participação na fundação da revista Radio-Cinéma-Télévision (futura Télérama), funda, em 1951, juntamente com Jacques Doniol-Valcroze, a revista Cahiers du Cinéma, que permanece a mais prestigiada e influente revista de cinema do mundo, em grande medida pelo papel que desempenhou na formação da Nouvelle Vague francesa (cujos principais cineastas foram, a seu tempo, colaboradores da revista) e na criação da “Política dos Autores”, certamente o movimento crítico e teórico que mais influência teve sobre a moderna historiografia do cinema.
Homem da Libertação e do pós-guerra, a cultura de André Bazin é inseparável do recentramento humanista que caracterizou a viragem da primeira para a segunda metade do século XX, surgindo o cinema, nesse cenário, com um papel de grande destaque como “pedagogia para a vida” com um grande alcance social. É uma sensibilidade característica do pensamento francês da altura, nomeadamente aquele que permitirá, em 1946, a fundação, na Sorbonne, da Associação Internacional de Filmologia, sob a liderança de Gilbert Cohen-Séat, e que reunirá contribuições de horizontes disciplnares muito diversos, com destaque para as neurociências – Michotte -, para a antropologia – Edgar Morin – a estética social – Pierre Francastel.
Pensador militante e interventivo, os escritos de Bazin têm um pendor crítico muito forte e actual; não é, nesse sentido, o autor de uma obra, mas de colectâneas de textos, a mais importante das quais é Qu’est-ce que le cinema ? reuniu, postumamente, os seus textos mais importantes, em quatro volumes (I: Ontologia e Linguagem; II: O Cinema e as outras artes; III: Cinema e Sociologia; IV: Cinema e Realidade: o neo-realismo). Para além deste livro, destaquem-se, ainda, as colectâneas dedicadas a Orson Welles, Jean Renoir, Charles Chaplin e as colectâneas de ensaios O Cinema da Ocupação à Resistência e Le Cinéma de la Cruauté.
Para além das óbvias repercussões sociais, as principais teses de Bazin respeitam à ontologia do cinema e às suas repersussões numa estética da imagem em movimento.
Se fosse possível condensar a imensa riqueza e diversidade de todo o trabalho de Bazin, a partir de uma leitura selectiva de Qu’est-ce que le cinéma?, escolheria três das suas teses fundamentais: a ontologia da imagem fotográfica, o mito do cinema total e a montagem interdita. De alguma maneira, é pela linha de cruzamento destes três textos que passa o essencial do que hoje se convencionou chamar teoria realista do cinema.
A preocupação maior de Bazin resume-se numa fórmula que ele próprio repetiu sob diversas formas e em múltiplas vezes: "o cinema alcançará a sua plenitude ao ser a arte do real." Mas ao invés dos pensadores de uma estética realista que concentraram a sua atenção nos conteúdos dos documentos visuais, Bazin esforçar-se-á, numa primeira fase, por clarificar o próprio conceito de realidade que o cinema trabalha e encena. Para ele, esta realidade é, sobretudo, uma realidade visual e espacial. Assim, o centro do realismo cinematográfico não provém do realismo do tema ou da expressão, mas de um autêntico realismo espacial, sem o qual as imagens-movimento não se constituiriam em cinema.
O cinema é, assim, arte do real porque inapelavelmente regista a espacialidade dos objectos e o espaço ocupado por eles. Ora esta realidade é, para Bazin, uma realidade em si mesma ambígua, sem nenhuma significação imposta, aposta ou colonizadora. No seu registo do mundo, o cinema deve pois registar essa ambiguidade fundadora, aí residindo a sua vocação ontológica.
Os dois primeiros grandes ensaios de Bazin, escritos no final da Ocupação – “A ontologia da imagem fotográfica” e “O mito do cinema total” - procuraram justamente explorar e esclarecer as condições desta ferida ontológica do cinema.
1. O cinema “redentor”
No início de “A ontologia da imagem fotográfica”, Bazin começa por referir, explicitamente, a importante tese de Malraux sobre esse movimento decisivo na História da Arte que, de Giotto a Leonardo, marca um trajecto que, no primeiro caso, transcende o seu modelo, e no segundo caso, trata de trabalhar para a pura mimesis, promovendo a arte como a forma de duplicar perfeitamente a realidade, enquanto criação divina.. Tanto Malraux como Bazin encaravam todo o sistema pictórico da Renascença como o produto de uma tensão contraditória vivida e experimentada entre, por um lado, uma pulsão destinada a incorporar a eternidade, colocando a representação num plano próprio, diferente, portanto, do plano da realidade, e por outro, a tarefa de duplicar essa realidade.
A tensão entre estas duas grandes pulsões ter-se-ia feito sentir, de um modo muito especial durante o Barroco, momento em que se sente o desejo e a necessidade de uma arte que reduplique a realidade com uma pura (e espectacular) fidelidade, até pela sugestão do movimento. A este desejo, perigoso em termos de uma estrita definição do facto artístico, chamou Bazin de mito do cinema total.
Ora o redentor deste percurso “vicioso” terá surgido em 1826, com a invenção da fotografia e, especialmente, com a invenção do cinema, em 1895, porque a ambas as invenções teriam libertado a arte de um perigoso constrangimento, que a empurrara para a produção de um realismo ilusório, permitindo-lhe, portanto, o regresso à sua função própria – a expressão, através da abstracção visual, da eternidade do Homem (“o complexo da múmia”, do Egipto a Giotto). “A fotografia é claramente o acontecimento mais importante na história das artes plásticas... a pintura, sendo confrontada, no campo da reprodução mecânica das imagens, com um competidor capaz de atingir, para além da semelhança, a verdadeira identidade do modelo, foi atirada para a categoria de objecto... a fotografia e o cinema são descobertas que satisfazem, de uma vez por todas, na sua própria essência, a nossa obsessão de realismo. Mas o factor essencial na transição do Barroco para a fotografia não é a simples perfeição de um processo físico (a fotografia permaneceria longo tempo inferior à pintura, no que diz respeito à reprodução da cor, por exemplo), mas um factor psicológico que tem a ver com a satisfação completa do nosso apetite pela ilusão, através de um processo mecânico de reprodução, no qual o homem não desempenha nenhum papel. A solução deve ser procurada não no resultado alcançado, não sim no modo de alcançar". (A produção e socialização da crença na fidelidade da fotografia).
2. O pacto ontológico
Na fotografia, um processo físico e químico indiferente é posto em confronto com um objecto, também ele físico. E é precisamente o facto da fotografia ser da mesma natureza do objecto (puramente física e sujeita apenas a leis físicas), que a torna ontologicamente diferente de todos os modos tradicionais de reprodução e representação.
"A natureza objectiva da fotografia confere-lhe um carácter de credibilidade ausente de todos os outros processos de fabricação de imagens. Somos forçados a aceitar como real a existência do objecto representado, tanto no tempo como no espaço. A fotografia goza assim de uma certa vantagem, em virtude desta transferência de realidade, da coisa para a sua reprodução" (Não a realidade bruta, mas os seus traços - empreintes - a identidade para além da semelhança: o sudário, a impressão da luz).
"Todas as artes dependem da presença do Homem. Só a fotografia nos é capaz de maravilhar com a sua ausência".
Fundamentalmente, o que existe para Bazin é uma espécie de contrato ontológico entre o cinema ou a fotografia e a realidade. Mas esta realidade é uma realidade pluri-significante e ambígua - "a ambiguidade imanente ao real". Desta forma, o cinema tem por vocação ontológica a reprodução do real, respeitando, o mais possível, esta sua característica fundamental; dito por outras palavras, o cinema deve produzir representações dotadas desta mesma ambiguidade - "a especificidade cinematográfica reside no simples respeito fotográfico pela unidade da imagem" (Em Rohmer, por exemplo, o cinema surge como “assíntota da realidade”).
3. A projecção estética
Deste postulado, verdadeiramente central em todo o seu modelo, Bazin retira duas conclusões diferentes: na forma, no sentido e no alcance. Por um lado, uma conclusão "histórica", no que diz sobretudo respeito ao cinema mudo. Para ele, teriam havido duas linhas de desenvolvimento no cinema mudo. A primeira linha, assente fundamentalmente nas escolas soviética e francesa, estava baseada nas imagens, "em tudo aquilo que o método de representação podia juntar à coisa representada" (para este primeiro grupo, obviamente, o cinema mudo era um instrumento esteticamente completo; qualquer som teria sempre um papel relativamente subsidiário ou, como vimos no caso de Eisenstein, contrapontual). A segunda linha, pelo contrário, tomou por base a realidade: "aqui a imagem conta, não por aquilo que junta à realidade, mas por aquilo que dela extrai ou que dela revela" (para este segundo grupo, o cinema mudo era uma representação incompleta do real, *a qual faltava um elemento fundamental).
De um lado temos os soviéticos, os franceses, os alemães. Do outro, um arquipélago de autores modernos, onde se destacam os nomes de Stroheim, Murnau, Flaherty e Dreyer.
4. O cinema da transparência
Para além desta conclusão histórica, temos, também, uma conclusão epistemológica, tanto no que se refere à natureza da imagem, de uma forma geral, como à montagem, em particular.
É justamente neste ponto que surge a famosa e tão debatida tese da Interdição da Montagem e o favorecimento do cinema da transparência, questão que ainda hoje é talvez a mais radical proposta estética feita ao cinema, um verdadeiro e singular acto de provocação estética que influenciou toda uma geração de autores, realizadores e críticos de cinema.
5. A montagem interdita
Bazin considera a existência de dois grandes tipos de montagem: Uma primeira categoria de montagem, vinculada ao cinema mudo, em que as imagens são organizadas de acordo com um princípio razoavelmente abstracto de argumento, de drama ou de forma.
Uma segunda categoria de montagem, em prática desde o aparecimento do sonoro; trata-se de uma montagem psicológica, na qual um determinado facto é repartido em fragmentos. Ora, segundo Bazin, a montagem psicológica serve apenas para antecipar os ritmos naturais da nossa atenção e percepção. A argumentação de base em relação a estes dois tipos de montagem desenvolve- se numa dupla linha. Por um lado, numa crítica de natureza epistemológica: a montagem deve ser interdita quando destrói a ambiguidade que caracteriza o Real (o exemplo de Nanook: a continuidade da cena de caça à foca); por outro, numa argumentação que se estrutura em torno de um pólo tecnológico e estilístico. Bazin opõe, então, a qualquer destes tipos de montagem as técnicas da transparência, da profundidade de campo e do plano-sequência., que tornam possível que uma determinada acção se desenvolva num grande período de tempo, sendo as diferentes situações dramáticas confrontadas, não na alternância horizontal dos planos, mas numa estrutura vertical de vários planos espaciais. Se o foco se mantiver nítido desde o plano da câmara até ao infinito, o realizador terá então a possibilidade de construir um esquema de relações dramáticas dentro do enquadramento (mise-en-scène) e não entre enquadramentos diferentes. Bazin prefere nitidamente este tipo de construção às soluções tradicionais de montagem, por três motivos fundamentais: porque ele é, em si mesmo, mais realista; porque a autenticidade de certos factos exige mesmo este tipo de tratamento mais realista; e, finalmente, porque se ajusta, muito melhor, à nossa forma psicológica (óptica e visual) de assimilação da realidade.
6. Conclusão: o realismo como ruptura
A realidade, para Bazin, é a realidade espacial, quer dizer, fenómenos visíveis e espaços que os separam. Ora o realismo espacial fica, em geral, comprometido pela montagem: ao espaço visível, fenomenológico, opõe-se um espaço teórico, reconstruído, incerto e virtual. A toma de vistas larga e a profundidade de campo enfatizam, precisamente, esse facto essencial do cinema, a saber, a sua relação, o seu laço fotoquímico com a realidade perceptiva e, especificamente, com a sua dimensão espacial. A montagem, ao contrário, procura realizar um tempo abstracto e um espaço indiferenciado, procurando criar uma continuidade mental à custa de uma descontinuidade perceptiva. Bazin vê, portanto, aqui, o germe de uma ruptura ontológica decisiva que só o neo- realismo italiano e determinadas práticas do cinema de ficção e do cinema documental (como o filme científico ou o filme de arte – Le Mystère Picasso) conseguiram verdadeiramente ultrapassar.
1. Defesa de Rossellini: Carta a Aristarco, chefe de redacção de Cinema Nuovo
Meu caro Aristarco,
Faz tempo que queria escrever este artigo, o qual tenho vindo a adiar de mês para mês, face à importância do problema e às suas múltiplas incidências. E também porque tenho consciência da minha impreparação teórica face à seriedade e à perseverança com que a crítica italiana de esquerda tem estudado e aprofundado o neo-realismo. Ainda que, desde o seu surgimento em França, tenha saudado o neo-realismo italiano e que, desde aí, lhe tenha consagrado, sem falha, creio, o melhor da minha atenção crítica, não posso pretender oferecer-lhe uma teoria coerente e substituir assim completamente o que você próprio pensa sobre o fenómeno neo-realista na história da cultura italiana. Acresce ainda o ridículo de poder parecer querer eu dar aos Italianos uma lição sobre o seu próprio cinema e eis então as razões que me têm feito diferir esta resposta à sua proposta de discussão, no seio da Cinema Nuovo, das posições críticas da sua equipa e das suas próprias sobre algumas obras recentes.
Quero ainda lembrar-lhe, antes de entrar no assunto propriamente dito, que são frequentes as divergências internacionais, mesmo entre críticos de uma mesma geração que tudo pareceria aproximar. Isso mesmo experimentámos nós, por exemplo, nos Cahiers du Cinéma com a equipa de Sight and Sound, podendo eu confessar sem vergonha que foi, em parte, a grande estima em que Lindsay Anderson teve Casque d’Or de J. Becker, filme que foi em França um fracasso, que me levou a reconsiderar a minha própria opinião e a descobrir no filme virtudes secretas que me tinham escapado. É verdade que a opinião estrangeira erra muitas vezes por desconhecimento do contexto da produção. Por exemplo, o sucesso, fora de França, de certos filmes de Duvivier ou Pagnol é, evidentemente, fundamentado num mal-entendido. Admira-se nesses filmes uma certa interpretação da França que aparece, no estrangeiro, como maravilhosamente exemplar, confundindo-se esse exotismo com o valor propriamente cinematográfico dos filmes. Reconheço que essas divergências não são de nenhum modo fecundas e suponho que o sucesso no estrangeiro de certos filmes italianos que você despreza procederá também do mesmo tipo de mal-entendido. Não penso, no entanto, que seja esse o caso dos filmes que nos opõem, nem mesmo o caso do neo-realismo em geral. Em primeiro lugar, reconhecerá que a crítica francesa não errou ao ser mais entusiasta do que a italiana em relação a filmes que são hoje a vossa glória dos dois lados dos Alpes. Pelo meu lado, gabo-me de ter sido um dos raros críticos franceses a ter desde sempre identificado o renascimento do cinema italiano com o “neo-realismo”, mesmo numa altura onde parecia de bom-tom proclamar que tal vocábulo não tinha qualquer significado, persistindo eu hoje em pensar que tal palavra é ainda a mais apropriada para designar a escola italiana, no que ela tem de melhor e mais fecundo.
Mas é precisamente esta a razão porque me inquieta a forma como você o defende. Ousaria dizer-lhe, caro Aristarco, que a severidade com que a Cinema Nuovo tem julgado certas tendências vistas por vós como involuções do neo- realismo me faz temer que estejais a destruir precisamente a matéria mais viva e mais rica do vosso cinema. Pela minha parte, admiro o cinema italiano com suficiente ecletismo, mas há rigores que admito vindos da crítica italiana. Que o sucesso em França de Pão, Amor e Ciúme o irrite, é algo que compreendo, é para mim um pouco como o sucesso dos filmes de Duvivier sobre Paris. Pelo contrário, quando o vejo catar piolhos na cabeça despenteada de Gelsomina ou apelidar de nulo o último filme de Rossellini, penso que, em nome da integridade teórica, está a esterilizar alguns dos caminhos mais vivos e prometedores do que persisto em designar como o neo-realismo. Confessa-me o seu espanto diante do sucesso relativo de Viagem em Itália em Paris, e sobretudo diante do entusiasmo quase unânime da crítica francesa. Quanto a La Strada, o seu triunfo é o que se sabe. Esses dois filmes vieram relançar oportunamente, não somente no interesse do público mas na estima dos intelectuais, o cinema italiano em perca de velocidade desde há um ou dois anos. O caso desses dois filmes é, por várias razões, muito diferente. Penso, no entanto, que, longe de terem sido aqui sentidos com uma ruptura com o neo- realismo, e ainda menos como uma involução, deram-nos uma imagem de invenção criadora, mas em linha com o génio da escola italiana. Vou tentar explicar porquê.
Confesso, primeiramente, repugnar-me a ideia de um neo-realismo definido exclusivamente por apenas um dos seus aspectos presentes, o que limitará a priori as virtualidades das suas evoluções futuras. Talvez seja defeito de uma mentalidade insuficientemente teórica. Creio antes, no entanto, que é por querer deixar à arte a sua liberdade natural. Em períodos de esterilidade, a teoria é fecunda para analisar as causas da seca e organizar as condições de um renascimento, mas quando se tem a sorte de poder assistir ao admirável florescimento do cinema italiano desde há dez anos, não haverá mais perigo do que vantagens em tantos pruridos teóricos? Não que não seja preciso ser severo; pelo contrário, a exigência e o rigor crítico parecem-me muito necessários, desde que visem a denúncia dos compromissos comerciais, da demagogia, do abaixamento no nível das ambições e não procurem impor a priori quadros estéticos aos criadores. Parece-me que um realizador cujo ideal estético esteja próximo das vossas concepções, mas que admite como princípio do seu trabalho limitar esse ideal estético a 10 ou 20% dos argumentos comerciais que pode filmar, tem menos mérito do que aquele que filma obras rigorosamente conformes ao seu ideal, mesmo que a sua concepção do neo-realismo seja diferente da vossa. Ora, para o primeiro, contentais-vos em registar a parte que escapa ao compromisso, reservando-lhe não mais que duas estrelas nas vossas críticas, enquanto que, sem apelo nem agravo, rejeitais completamente o segundo no vosso inferno estético.
Rossellini seria, sem dúvida, menos culpado aos vossos olhos, se tivesse filmado o equivalente de Stazione Termini ou de La Pensionnaire1 e não Jeanne au Bûcher ou La Peur2. O meu objectivo não é defender o autor de Europa 51, em prejuízo de Lattuada ou de Sica: a política do compromisso é defensável até um certo ponto que não tentarei determinar aqui, embora me pareça que a independência de Rossellini dá à sua obra, independentemente do que sobre ela pensarmos, uma integridade de estilo, uma unidade moral que, sendo ambas raras no cinema, forçam a estima, antes mesmo da admiração.
Não é este, no entanto, o terreno metodológico em que o quero defender. O meu argumento visará o próprio fundo do debate. Rossellini foi verdadeiramente e é ainda neo-realista? Quer-me parecer que concordará que o foi. Como contestar, com efeito, o papel desempenhado por Roma, Cidade Aberta e Paisá na instauração e desenvolvimento do neo-realismo? Mas descobriu, também, a sua “involução”, sensível já em Alemanha, ano zero, decisiva, segundo vós, a partir de Stromboli e dos Fioretti3, catastrófica com Europa 51 e Viagem em Itália. Ora, que se reprova essencialmente neste itinerário estético? De abandonar, cada vez mais, aparentemente, a preocupação do realismo social, da crónica actual em benefício, é verdade, de uma mensagem moral cada vez mais sensível, mensagem moral que se pode, segundo o grau de maldade, solidarizar com uma das duas grandes tendências políticas italianas. Recuso, desde já, deixar cair o debate neste terreno demasiado contingente. Mesmo que tivesse simpatias democrata-cristãs (das quais não tenho qualquer prova, pública ou privada), tal não excluiria Rossellini, a priori, de qualquer possibilidade neo-realista. Deixemos isso. É certo, no entanto, que se tem o direito de recusar o postulado moral ou espiritual que cada vez mais surge claramente na sua obra, mas essa recusa não pode implicar a da estética na qual essa mensagem se realiza, como se os filmes de Rossellini fossem filmes de mensagem, quer dizer, redutíveis à dramatização de ideias tomadas a priori. Ora, não há realizador italiano em que as intenções possam ser menos dissociadas da forma, sendo justamente a partir deste ponto que gostaria de caracterizar o seu neo-realismo.
Se o termo tem um sentido e quaisquer que sejam as divergências que possam surgir sobre a sua interpretação, parece-me, partindo de um certo consenso mínimo, que o neo-realismo se opõe essencialmente não só aos sistemas dramáticos tradicionais, mas também aos diversos aspectos conhecidos do realismo – tanto na literatura como no cinema – pela afirmação de uma certa globalidade do real. Tomo esta definição, que me parece justa e cómoda, do abade A. Ayfre (cf. Cahiers du Cinéma, no 17). O neo-realismo é uma descrição global da realidade por uma consciência global. Entendo, nesse sentido, que o neo-realismo se opõe às estéticas realistas que o precederam, e nomeadamente ao naturalismo e ao verismo, uma vez que o seu realismo provém menos da escolha dos temas do que da tomada de consciência. Se se quiser, o que é realista em Paisá, é a resistência italiana, mas o que é neo-realista é a encenação de Rossellini, a sua apresentação simultaneamente elíptica e sintética dos acontecimentos. Noutros termos ainda, o neo-realismo esquiva-se por definição à análise (política, moral, psicológica, lógica, social ou qualquer outra) dos personagens e das suas acções. Considera a realidade como um bloco, que não é incompreensível mas indissociável. É por isso que não sendo o neo-realismo anti-espectacular (ainda que a espectacularidade lhe seja estranha) é, pelo menos, anti-teatral, na medida em que a representação do actor teatral supõe uma análise psicológica dos sentimentos e um expressionismo físico, símbolo de toda uma série de categorias morais.
Isto não quer dizer, muito pelo contrário, que o neo-realismo se reduza a um mero documentarismo objectivo. Rossellini gosta de dizer que, no princípio da sua concepção da realização, está não só o amor pelos seus personagens, mas pelo real em si mesmo, sendo justamente este amor que o proíbe de dissociar o que a realidade uniu: o personagem e o seu cenário. O neo-realismo não se define, então, por uma recusa em tomar posição face ao mundo, nem mesmo de o julgar, mas supõe, com efeito, uma atitude mental; é sempre a realidade vista por um artista e refractada pela sua consciência, mas por toda a sua consciência, e não apenas pela sua razão ou pela sua paixão ou pelas suas crenças, e recomposta a partir desses elementos dissociados. Pode assim dizer-se que o artista realista tradicional (Zola, por exemplo) analisa a realidade refazendo depois uma síntese conforme à sua concepção moral do mundo, enquanto o realizador neo-realista a filtra. Sem dúvida que a sua consciência, como qualquer consciência, não deixa passar todo o real, mas a sua escolha não é nem lógica nem psicológica: é ontológica, na medida em que permanece global a imagem que ele nos restitui da realidade, do mesmo modo que, metaforicamente, uma fotografia a preto e branco da realidade não é uma imagem decomposta e recomposta dessa realidade “sem a cor”, mas uma verdadeira impressão do real, uma espécie de molde luminoso onde a cor não aparece. Existe uma identidade ontológica entre o objecto e a sua fotografia. Talvez um exemplo permita compreender-me melhor. Tomá-lo-ei, precisamente, de Viagem em Itália. O público manifestou-se decepcionado pelo filme, porque ele mostra Nápoles de uma forma incompleta e fragmentária. Esta realidade não é mais, com efeito, do que um milésimo do que poderia ser mostrado, mas o pouco que se vê, algumas estátuas num museu, mulheres grávidas, uma escavação em Pompeia, um fragmento de uma procissão de San Gennaro, possui, no entanto, esse carácter global que me parece essencial. É Nápoles “filtrada” pela consciência da heroína e se a paisagem é pobre e limitada é porque essa consciência de burguesa medíocre é, ela própria, de uma rara pobreza espiritual. A Nápoles do filme não é portanto falsa (o que poderia acontecer num documentário de 3 horas), mas é uma paisagem mental, simultaneamente tão objectiva como uma pura fotografia, e tão subjectiva como uma pura consciência. Compreenda-se então que a atitude de Rossellini face aos seus personagens e ao seu meio geográfico e social espelha a atitude da sua heroína diante de Nápoles, com a diferença da sua consciência ser a de um artista de grande cultura e, na minha opinião, possuidor de uma rara vitalidade espiritual.
Desculpando-me de ter de proceder por metáforas, já que não sou filósofo o que dificulta fazer-me entender mais directamente, tentaria ainda uma nova comparação. Diria que as formas da arte clássica e do realismo tradicional constroem as obras como se constrói uma casa, com tijolos ou pedras cortadas à medida. Não se trata aqui de contestar a utilidade das casas, nem a sua eventual beleza, nem a perfeita adequação dos tijolos a tais usos, mas convenhamos que a realidade do tijolo reside menos na composição do que na sua forma e resistência. Ninguém pensará em defini-lo como um fragmento de argila, a sua originalidade mineral importa pouco, o que conta é a comodidade do seu volume. O tijolo é um elemento da casa. Isto mesmo está inscrito na sua própria aparência. O mesmo se poderá dizer, por exemplo, das pedras utilizadas para compor uma ponte. Elas encaixam-se perfeitamente para formar o vão. Mas os blocos de rocha espalhados num ribeiro são e permanecem rochedos, a sua realidade de pedra não é afectada pelo facto de, saltando de um para o outro, me servirem para atravessar a água. Se me serviram para o mesmo uso que a ponte é porque eu soube emprestar ao acaso da sua disposição o meu complemento de invenção, juntando-lhes o movimento que, sem lhes modificar a natureza ou a aparência, lhes deu provisoriamente um sentido e uma utilidade. Do mesmo modo, o filme neo-realista tem um sentido, mas a posteriori, na medida em que permite à nossa consciência passar de um facto para outro, de um fragmento de realidade ao seguinte, enquanto o sentido é dado a priori na composição artística clássica: a casa está já no tijolo.
Se a minha análise é correcta, deduz-se que o termo de neo-realismo não devia nunca ser utilizado como substantivo, a não ser para designar o conjunto dos realizadores neo-realistas. O neo-realismo não existe em si, apenas há realizadores neo-realistas, independentemente de serem materialistas, cristãos, comunistas ou tudo o que se quiser. Visconti é neo-realista em La Terra trema que faz apelo à revolta e Rossellini é neo-realista nos Fioretti que ilustram uma realidade puramente espiritual. Só recusaria o epíteto a quem, para me convencer, dividisse o que a realidade uniu.
Defendo então que Viagem em Itália é neo-realista, bem mais do que O Ouro de Nápoles, por exemplo, que admiro muito mas que procede de um realismo psicológico.