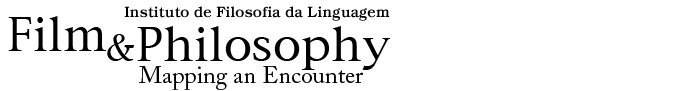(Joana Pimenta)
D. N. Rodowick é um filósofo americano que se dedica exclusivamente aos estudos do cinema, abordando as relações entre a teoria do cinema, a cultura visual e os estudos sobre os media. Apesar de esta descrição parecer colocá-lo num impasse, Rodowick nunca abdica do título de filósofo - afirma que a sua abordagem do cinema, tanto da teoria como dos filmes, é filosófica, e mesmo quando está a tratar de questões relacionadas com as mudanças introduzidas pelos novos media, ou do seu enquadramento numa filosofia geral das humanidades, a sua preocupação central é entender o lugar, que defende ser central, da filosofia do cinema.
Iniciou a sua carreira académica na Universidade de Austin, Texas, e continuou- a na Université Paris 3 e na Universidade de Iowa, onde se doutorou em 1983. Depois disso, nunca mais parou de estar ligado ao ensino e à criação ou revitalização de programas dedicados aos estudos em cinema, e intitula-se o “Johnnie Appleseed” dos programas académicos em Film Studies: primeiro Yale, onde ensina até 1991, depois Rochester, onde fica durante dez anos, passando pelo King’s College em Londres, onde funda o Film Studies Center, antes de chegar a Harvard e à sua filiação com o departamento de Visual and Environmental Studies, onde criou o programa de doutoramento em cinema.
Mas Rodowick é também um autor profícuo e com uma obra consistente, que pode ser dividida em três questões essenciais: a historiografia e a análise crítica da teoria do cinema, e a defesa do seu lugar central para entender aquilo que pode ser uma filosofia contemporânea das humanidades; a filosofia do cinema de Gilles Deleuze e Stanley Cavell, e mais recentemente o seu enquadramento no contexto das questões éticas da filosofia do cinema; o cinema na viragem para o digital, e a afirmação da relevância dos estudos do cinema no contexto da cultura visual e da teoria dos media. De The Crisis of Political Modernism a An Elegy for Theory, passando por Gilles Deleuze’s Time Machine e Reading the Figural, or Philosophy after the New Media, sem esquecer The Virtual Life of Film, que parece ter vindo marcar uma nova direcção da investigação dos estudos do cinema, são abordadas as questões que definem o seu percurso: O que define a coerência dos estudos fílmicos enquanto disciplina? Como pode o cinema elucidar e enriquecer a área mais abrangente dos estudos visuais? A coerência filosófica da teoria do cinema e dos estudos da imagem é desafiada pela crescente presença cultural dos media digitais? De que forma a teoria do cinema, entendida como uma filosofia do cinema, assume um lugar central numa filosofia mais geral das humanidades?
A tese principal de Rodowick, que tem vindo a desenvolver, é que o cinema não morreu, remediou-se, e apesar de ficar perdida uma certa relação com o passado e a memória, é no paradigma digital que a teoria do cinema vem assumir uma relevância sem precedentes, reivindicando um papel central não só para a compreensão do que são os novos media como do que pode ser uma filosofia do cinema que se enquadre e contribua de forma decisiva para uma filosofia geral das humanidades. Neste sentido, Rodowick defende que os conceitos da teoria do cinema persistem, e que temos de tentar perceber de que forma estes estabelecem, em grande parte, uma história do pensamento, como podem ser usados para reexaminar a história e para compreender tanto os novos media como os antigos, ao mesmo tempo que a própria teoria é recontextualizada de formas que expandem e complexificam os seus poderes.
A linha que une a obra de Rodowick, de The Crisis of Political Modernism a An Elegy for Theory é a adopção de uma atitude reflexiva em relação à teoria, e a tentativa não só de abordar a sua história, como de integrar esta história na história das humanidades. De facto, podemos dizer que o objectivo principal de Rodowick é afirmar a relevância que tem a teoria do cinema, sempre entendida do ponto de vista de uma filosofia do cinema, no contexto mais geral de uma filosofia das humanidades, na qual esta permite criar as bases para entender o que está em jogo nas discussões epistemológicas, ontológicas e éticas (como Rodowick defende em An Elegy for Theory).
Para além desta primeira questão, Rodowick afirma a importância da teoria para compreender as formas emergentes dos novos media, que não só são pensados a partir de uma metáfora cinematográfica, como são os conceitos da teoria do cinema aquilo que temos de mais valioso para poder pensá-los, na ausência de conceitos próprios (que ainda se encontram, em grande medida, por desenvolver).
É neste sentido que se optou por fazer uma leitura das obras de Rodowick direccionada para este questionamento da teoria, e para a tentativa de delinear a radicalidade da proposta que apresenta de uma filosofia do cinema.
1. A política da teoria
As crises do modernismo político e a deslocalização do problema da identificação em função do lugar crítico do espectador.
2. A vida virtual do cinema
Questões ontológicas dos Novos Media na genealogia do Cinema.
3. A teoria do cinema no paradigma do audiovisual e do conhecimento interdisciplinar
A filosofia (do cinema) depois dos novos media.
4. Elegia da teoria
A centralidade da filosofia do cinema no contexto geral de uma filosofia das humanidades.
5. Filosofia do cinema
A recente centralidade e a nova abordagem às questões da ética e da estética.
1. Uma Elegia pela Teoria
Éloge, n. m. (1580: lat. Elogium, pris au sens gr. Eulogia). 1. Discours pour célébrer qqn. ou qqch. Éloge funèbre, a\cadémique. Éloge d’un saint.
- Le Petit Robert
He sent thither his Theôry, or solemn legation for sacrifice, decked in the richest garments.
- George Grote, A History of Greece (1862)
A partir do fim dos anos 60 e durante a década de 70, a institucionalização dos estudos do cinema nas universidades norte-americanas e europeias foi identificada com uma certa ideia de teoria. Esta era menos uma “teoria” no sentido abstracto ou das ciências naturais, e mais um compromisso interdisciplinar com conceitos e métodos que derivavam da semiologia literária, da psicanálise Lacaniana, do marxismo Althusseriano, e que ecoava a influência mais alargada do estruturalismo e do pós-estruturalismo nas humanidades. Contudo, a evolução dos estudos sobre o cinema a partir do início da década de 80 tem sido marcada tanto por um descentramento do cinema em relação aos estudos visuais e sobre os media, quanto por um recuo em relação à teoria. Não há dúvida que este recuo tem uma série de efeitos saudáveis: a revigoração da investigação histórica, reconceptualizações sociológicas mais rigorosas dos estudos sobre o espectador e a audiência, e a localização do cinema no contexto mais alargado da cultura visual e dos media electrónicos. Mas nem todas estas inovações foram bem recebidas. Em 1996, foi lançado o debate sobre a Pós- Teoria por David Bordwell e Noel Carroll, que reclamavam a rejeição da Teoria Dominante [Grand Theory] dos anos 70 por considerarem-na incoerente. Igualmente desconfiados em relação aos estudos culturais e aos estudos dos media, Bordwell e Carroll insistiram na ancoragem da disciplina no filme enquanto objecto empírico e como estando sujeito a investigações fundadas no uso da metodologia das ciências naturais. Quase em simultâneo, outros desafios filosóficos à teoria eram lançados por teóricos do cinema influenciados pela filosofia analítica e pela segunda filosofia de Ludwig Wittgenstein. Estes debates emergiram sem os contextos problemáticos tanto das guerras culturais dos anos 90 quanto do surgimento das politicas da identidade e dos estudos culturais.
Na sua confusão da “teoria” com a Teoria, aquilo que se perde frequentemente nestes debates é o reconhecimento de que é desaconselhado avançar juízos – seja na história, crítica ou filosofia – na ausência de avaliações qualitativas dos nossos compromissos epistemológicos. Querer renunciar à teoria implica mais do que um debate sobre os padrões epistemológicos; é uma recusa da reflexão sobre as instâncias éticas que se escondem por detrás dos nossos estilos de conhecimento. Neste sentido, quero defender não um retorno à ideia de teoria dos anos 70, mas um debate activo sobre aquilo que deveria constituir uma filosofia das humanidades que estivesse, em igual medida, critica e reflexivamente atenta aos seus compromissos epistemológicos e éticos.
Um breve olhar sobre história da teoria é, sem dúvida, útil para este projecto. Em retrospectiva, é curioso que logo desde cedo no século XX o cinema se tenha sido associado à teoria, em vez da estética ou da filosofia da arte. Logo em 1924, Béla Balázs defende, em Der sichtbare Mensch, uma teoria do cinema que acompanhe a prática artística, guiada pela construção de conceitos69. A evocação da teoria neste caso é desde logo representativa de uma tendência presente na filosofia da arte alemã do século XIX, que entende a estética como Wissenschaft, comparável em método e epistemologia com as ciências sociais. Desta altura em diante, raramente se falaria em estética ou filosofia do cinema, mas antes, sempre, de teoria do cinema. A “Teoria”, contudo, tem sido um conceito muito variável ao longo dos séculos. Pode-se encontrar as origens nobres da teoria no sentido grego de theoria como visão, especulação, ou vida contemplativa. Para Platão é a actividade humana mais elevada; em Aristóteles, a actividade principal do Primeiro Motor. Para os Gregos, a teoria não era apenas uma actividade, mas também um ethos, que associava o amor pela sabedoria com um estilo de vida ou modo de existência. Ligando thea [vista] e theoros [espectador], a teoria tem sido muitas vezes associada à visão e ao espectáculo. (Talvez seja a isto que Hegel se referia na Estética, quando nomeia a visão como o mais teórico dos sentidos.) Em Keywords, Raymond Williams identifica os quatro primeiros sentidos do termo, que emergiram no século XVII: espectáculo, vista contemplativa, esquema de ideias, e esquema explicativo. Com a sua ligação etimológica ao teatro, era sem dúvida inevitável que o novo medium do cinema convocasse a teoria. Contudo, e apesar da persistência em associar o pensamento sobre o cinema com a teoria poder ser atribuída à derivação do termo da expectativa e do espectáculo, uma noção contemporânea, e de senso comum, deriva dos últimos dois significados. As teorias procuram explicar, normalmente propondo conceitos, mas nisto são frequentemente distinguíveis da acção ou prática. Deste modo, sintetizado por Williams, é “um esquema de ideias que explica a prática”71. Esta é, certamente, a forma como alguém tal como Balázs ou Segei Eisenstein invocava a noção de teoria.
Em The Virtual Life of Film, defendo que uma das poderosas consequências da rápida emergência dos media electrónicos e digitais é já não podermos garantir aquilo que o “filme” é – a sua ancoragem ontológica perdeu a fundamentação – e somos por isso compelidos a revisitar continuamente a questão: O que é o cinema? Esta falta de fundamentação ecoa na historia conceptual dos estudos fílmicos contemporâneos através daquilo a que chamo a “atitude metacrítica” é manifesta no actual interesse dos estudos sobre o cinema tanto em escavar a sua própria história quanto em examinar reflexivamente aquilo que a teoria do cinema é ou tem sido. A atitude reflexiva em relação à Teoria começou, talvez, com o meu próprio The Crisis of Political Modernism, e durante os anos 80 e 90 manifestou-se numa série de abordagens em confronto: Philosophical Problems of Classical Film Theory e Mystifying Movies de Carroll, Making Meaning, de Bordwell, Cinema and Spectatorship de Judith Mayne, Projecting Illusions de Richard Allen, Post-Theory: Reconstructiong Film Studies de Bordwell e Carroll, Film Theory and Philosophy de Allen e Murray Smith, Theories of Cinema, 1945-1995 de Francesco Casetti, Wittgenstein, Theory and the Arts de Allen e Malcom Turvey, e por aí fora.72
Na sua afirmação da teoria como um objecto disponível para o exame histórico e teórico, estes livros têm três abordagens diferentes. Os modelos das ciências naturais inspiram uma abordagem, tanto filosófica quando analítica, que defende que o valor epistemológico de uma teoria bem construída deriva de um enquadramento conceptual preciso e definido por um leque limitado de axiomas. Esta abordagem assume que existe um modelo ideal do qual todas as teorias derivam o seu valor epistemológico. Em alternativa, a abordagem de Casetti é ao mesmo tempo histórica e sociológica. Mantendo-se agnóstico em relação aos debates sobre o valor epistemológico, agrupa declarações proferidas por praticantes da teoria, assim auto-designados, descrevendo tanto as propriedades internas de tais declarações quanto o seu contexto externo. Em The Crisis of Political Modernism, a minha própria abordagem, inspirada pela Arqueologia do Saber de Foucault, assume que mesmo a condição do conhecimento é historicamente variável. O discurso produz conhecimento. Todas as teorias têm subentendidas modalidades enunciativas que regulam a ordem e a dispersão das asserções porque engendram ou tornam visível grupos de objectos, inventam conceitos, definem abordagens e organizam estratégias retóricas. Esta abordagem analisa como o conhecimento é produzido em contextos discursivos delimitados e variáveis. Para começar, pode realmente parecer estranho associar teoria e história. Na apresentação de uma série de seminários no Institute for Historical Research da Universidade de Viena em 1998, deixei boquiabertos um grupo de estudantes quando disse que a teoria do cinema tem uma história, que de facto são histórias múltiplas. Aqui, a aproximação analítica à teoria, por um lado, e as abordagens históricas ou sociológicas, por outro, traçam caminhos diferentes. O facto de ter uma história começa logo por distinguir a teoria do cinema, e toda a teoria estética, das ciências naturais, porque os fenómenos naturais e culturais não partilham da mesma temporalidade. O questionamento estético deve ser sensível à variabilidade e volatilidade da cultura e inovação humanas; as suas epistemologias derivam de consensos (variáveis) e da auto-análise daquilo a que já sabemos e fazemos na vida quotidiana. O exame do mundo natural pode presumir uma teleologia na qual novos dados são acumulados e novas hipóteses refinadas, através de processos de modelação em relação aos quais, e ao contrário do que se passa com a cultura humana, não temos conhecimento anterior.
*
Creio que precisamos de um enquadramento conceptual mais preciso sobre a forma como o cinema se associou à teoria no início do século XX, e como as noções de teoria variam nos diferentes períodos históricos e contextos nacionais. Mas vamos antes regressar à questão mais recente da atitude meta- crítica em relação à teoria.
Em meados dos anos 90, a teoria do cinema, bem como o conceito de “teoria” em si, foram desafiados por uma série de perspectivas. Esta contestação surgiu em três fases justapostas. A primeira é marcada pela defesa de uma “poética histórica” do cinema, advogada por Bordwell durante os anos 80, e que culmina com os debates que se seguiram à publicação de Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema, e pela publicação do número especial de “Cinema and Cognitive Psychology” sobre a íris, ambos em 1989. O momento-chave da segunda fase é a publicação de Post-Theory em 1996. Com o subtítulo Reconstructing Film Studies, esta obra representa a tentativa de estabelecer os estudos fílmicos como uma disciplina fundada na ciência cognitiva e na poética histórica, e de recentrar a teoria de acordo com os ideias epistemológicos do raciocínio das ciências naturais. Se a segunda fase pode ser caracterizada pela tentativa de fazer regressar a teoria ao modelo da investigação e explicação “científicas”, a terceira fase sujeita esta associação da teoria com a ciência à crítica filosófica. Como se pode ver no recente trabalho de Allen e Turvey, muito influenciado pela crítica de Wittgenstein à teoria, que surge nas Investigações Filosóficas, esta perspectiva defende uma nova orientação para o exame da cultura e das artes através de uma filosofia das humanidades. Desta forma, durante os anos 80 e 90, há uma divisão tripla da teoria – pela história, pela ciência, e, finalmente, pela filosofia. É importante ter em conta a contribuição de Bordwell para aquilo que caracterizei como o metacrítico, ou a atitude metacrítica nos estudos do cinema. Entre os da sua geração, Bordwell foi dos primeiros a mostrar fascínio pela história dos estudos sobre o cinema, bem como a direccionar a sua atenção para os problemas de metodologia relacionados com as questões da investigação histórica e análise crítica da forma e estilo do cinema. Durante os anos 80, Bordwell produziu um número de ensaios metodológicos que abriram caminho e promoveram a “poética histórica” do cinema. As linhas principais da sua abordagem são explicitadas de Narration and Fiction Film (1985) a Making Meaning. Bordwell não pode ser acusado de virar as costas à teoria – ninguém teve um compromisso maior, ou tão admirável, com a construção da boa teoria73. Por seu lado, Bordwell quer fazer da teoria história, ou antes, localizar a teoria no contexto da investigação histórica empírica. Neste sentido, Bordwell responde àquilo que entende como a ameaça dupla dos estudos culturais e dos estudos sobre os media. Por um lado, corre-se o risco da incoerência metodológica, num campo no qual os compromissos interdisciplinares se tornaram demasiado abrangentes; por outro, o risco de se desvanecer, no contexto dos estudos sobre os media, o campo fundamental dos estudos do cinema – do filme como um objecto formal que delimita efeitos especificáveis. Assim, o objectivo da poética histórica é projectar uma visão de coerência metodológica num campo de estudo que se entende estar a perder o seu centro, bem como devolver uma ideia do filme como uma forma especificável desse centro. Neste sentido, a poética diz respeito às questões de forma e estilo. Lida com problemas concretos da prática estética e descreve a especificidade da função estética do cinema, enquanto que reconhece a importância da convenção social naquilo que uma cultura define como uma obra de arte. Em Narration and the Fiction Film, o lado histórico da poética articula a proliferação de modos distintos de narração (cinema clássico de Hollywood, materialismo dialéctico ou soviético, cinema de autor europeu do pós-guerra, etc.) como delimitáveis no tempo e sensíveis aos contextos nacionais e/ou culturais. Aqui, Bordwell usa esta ideia como paradigma para fundar a análise das obras individuais sob a investigação histórica e sob princípios teóricos explícitos, de uma forma que evita as fronteiras arbitrárias entre a história, a análise e teoria. Contudo, em 1989, o ataque de Bordwell à interpretação e a sua promoção do cognitivismo como modelo de “investigação de nível médio” reequacionam a teoria em função de três ideias particulares. Em primeiro lugar, o seu apelo à investigação de nível médio implica abandonar conceitos mais gerais de ideologia e cultura, no sentido de refocalizar a atenção na estrutura intrínseca e funções do cinema. Em segundo, promove um afastamento semelhante em relação às teorias psicanalíticas do sujeito, centrando-se no estudo da compreensão fílmica como fundada em estruturas mentais e perceptuais empiricamente delimitáveis. Finalmente, o seu ênfase renovado na história também assinala um afastamento em relação às preocupações conceptuais de alto nível, no sentido de refocalizar a investigação nos dados fundamentais dos filmes e na documentação primária, gerada nos seus contextos de produção. Neste sentido, Bordwell acusa a interpretação, com a sua ganância pelos conceitos abstractos com os quais possa mapear semanticamente o seu objecto, de tentar chegar demasiado alto. Nesse caso, o objecto-filme em si desaparece na sua particularidade, tornando-se pouco mais que o exemplo de um conceito. Para além disso, os interpretantes são reflexivamente insensíveis em relação às operações cognitivas que executam. Não produzem novo conhecimento, mas antes invocam repetitivamente a mesma heurística para moldar filmes diferentes.
As respostas irritadas que Making Meaning e a Cinema and Cognitive Psychology provocaram demonstram que as ideias de Bordwell tocaram num ponto delicado, e há poucas dúvidas que estas obras não sejam uma resposta genuína e importante ao impasse teórico que os estudos do cinema começaram a confrontar no final dos anos 80. No seguimento da crítica da chamada Grand Theory, o que é mais interessante aqui é a aliança implícita entre a poética histórica e a filosofia analítica. Nas duas introduções a Post-Theory, Bordwell e Carroll promovem fortes visões daquilo que implica uma construção da boa teoria, que contraste claramente com o estado da teoria do cinema e da teoria cultural suas contemporâneas. Estou aqui menos preocupado em evidenciar as suas críticas da teoria contemporânea do cinema e mais preocupado com avaliar os seus ideais epistemológicos, enquadrados no seu apelo comum aos métodos das ciências naturais74. Olhando para as teorias de Bordwell e Carroll, considero importante examinar o seu ideal de projecção da “boa teoria” como o apelo ético por um novo modo de existência, no qual, no seu ponto de vista, a política e a ideologia não suplantaram a razão. Neste sentido, a “dialéctica”, como Carroll a apresenta, torna-se a base de uma comunidade ideal de investigação, composta por agentes racionais que trabalham sobre problemas comuns e conjuntos de elementos que têm resultados verificáveis de acordo com os “padrões ordinários” de verdade e erro75. Mas estes ideias, diria eu, não assentam numa base filosófica mais firme que as teorias que criticam. Por exemplo, enquanto a Teoria Dominante é criticada pela sua obsessão com um sujeito irracional e inconsciente que não pode ter em conta as suas acções, Bordwell defende uma teoria do “agente racional” para o funcionamento mental, o que corresponde, por outro lado, ao sujeito da boa teoria a reconhecer-se no objecto que quer examinar76. O conceito do agente racional funciona assim tautologicamente, como uma projecção na qual o sujeito científico ideal procura os contornos da sua própria imagem no modelo da mente que deseja construir ou descobrir. Apesar de estarem enquadrados numa perspectiva que se esforça avidamente para se libertar do posicionamento ideológico e afirmar uma epistemologia que seja neutra em termos de valor, as introduções a Post-Theory exprimem o anseio por um mundo diferente, modelado por uma visão idealizada da investigação científica: uma comunidade de investigadores unidos por padrões epistemológicos comuns que anseiam por uma imagem universalizável e verdadeira do seu objecto.
A crítica da teoria contemporânea do cinema feita por Richard Allen e Murray Smith ecoa a perspectiva de Bordwell e Carroll. Acusando a teoria de um “ateísmo epistemológico”, potenciado por uma preocupação ética exagerada com a crítica da modernidade capitalista, as análises de Allen e Smith tornam claras um número de pressuposições filosóficas que estavam ausentes na abordagem da Post-Theory. De um ponto de vista analítico, os argumentos contra e a favor da “teoria” têm lugar sob o pano de fundo da filosofia da ciência. Empreendemos ou não a construção da teoria em função de um ideal epistemológico baseado nos modelos das ciências naturais. Contudo, ao utilizar os métodos e as formas da explicação científica, a filosofia torna-se indistinguível da ciência, pelo menos no que diz respeito à construção da teoria. A filosofia dilui-se na ciência e a “teoria” torna-se indistinguível da metodologia científica.
Neste sentido, quero argumentar que, desde o início do século XX, a filosofia analítica tem sido responsável por projectar um ideal epistemológico da teoria que deriva da metodologia das ciências naturais. Este ideal produziu uma disjunção na preocupação antiga da filosofia em balançar o questionamento epistemológico com a avaliação ética77. Neste caso, a teoria, pelo menos tal como é geralmente concebida nas humanidades, desaparece de duas formas. Não só a actividade da teoria é entregue à ciência, como a filosofia em si começa a perder a sua autonomia e a sua identidade – parece não ter nenhuma função epistemológica que seja salvaguardada à luz dos ideais científicos. A filosofia analítica ataca a teoria em mais do que uma frente. Há a tendência implícita para deslegitimar a teoria do cinema que subsiste porque, apesar de esta trabalhar conceitos e metodologias influentes nas humanidades, estes saem da norma que dita a regra, daquilo a que W. V. Quine chamaria uma “filosofia naturalizada”. Consequentemente, e uma vez que muito pouco pensamento estético sobre o cinema se conforma com os modelos científicos, Carroll conclui que, em grande parte, a teoria do cinema ainda não existe, apesar de poder vir a existir no futuro. O conflito sobre a teoria nos estudos sobre o cinema reproduz assim em microcosmos um debate mais alargado, que implica tanto o papel da epistemologia e da crítica epistemológica nas humanidades como o lugar da filosofia em relação à ciência. A filosofia analítica quer redimir a “teoria” do cinema colocando-a no contexto da filosofia da ciência. Ao mesmo tempo, isto implica que as epistemologias que eram características das humanidades durante décadas não sejam legitimadas filosófica nem cientificamente. Assim, a contestação da teoria torna-se, de facto, uma rejeição epistemológica das humanidades.
Neste sentido, durante a década de 90, a filosofia, nos estudos do cinema, alia- se à ciência como um desafio à teoria. Nesta fase do debate, “teoria” é o termo que se contesta. Contudo, muito depressa passou a ser a “ciência” o termo contestado, quando uma filosofia das humanidades cedeu a teoria, caminhou no sentido da ciência, e opôs-se a ambas. Os últimos trabalhos de Wittgenstein são chaves importantes para compreender esta transição, bem como a reivindicação feita por G. H. Wright de uma filosofia das humanidades, em obras como The Tree of Knowledge, and Other Essays (1993). O interesse do segundo Wittgenstein para o meu projecto, bem como para as humanidades em geral, reside no seu ataque à identificação da filosofia com a ciência. Declarando que “a Filosofia não é uma das ciências naturais” (Tractatus Logico-Philosophicus 4.111), apresenta um importante desafio à concepção de Bertrand Russell da filosofia como aliada a modelos epistemológicos retirados das ciências naturais. Ao contrário de Russell, Wittgenstein argumenta que a ciência não deve ser o único modo de explicação e de conhecimento, e insiste na especificidade da filosofia enquanto prática. É importante examinar de perto o ataque de Wittgenstein à “teoria”, afirmando-a como uma forma de explicação inapropriada para as artes e as humanidades. Contudo, a minha preocupação central aqui será a de explorar argumentos que defendam uma filosofia das humanidades que se distinga da ciência e da teoria. Se a filosofia envolve um outro modo de explicação e conhecimento, então porque é que, em alternativa, não constitui uma teoria? Tal como Allen e Turvey resumem na sua introdução a Wittgenstein, Theory and the Arts, a filosofia difere da ciência uma vez que o seu sujeito não é empírico por natureza – só a natureza pode ser sujeito de investigação através de métodos empíricos. “Empírico” tem aqui uma definição precisa, é aquilo em relação ao qual não podemos ter conhecimento anterior. Em alternativa, a filosofia preocupa-se com problemas de sentido e significado, e estes problemas não são empíricos no sentido em que o uso da linguagem e a expressão criativa são já parte de um armazém de conhecimento humano ao qual podemos aceder em comum. Isto implica um segundo critério: as asserções sobre fenómenos empíricos são, e devem ser, necessariamente verificáveis. Contudo, a investigação filosófica diz apenas respeito a testar os limites do sentido e significado de uma dada proposição. Neste sentido, a defesa de Wittgenstein da filosofia como a melhor alternativa à teoria para estudar o comportamento humano e a criatividade é baseada naquilo a que chama “a autonomia do sentido linguístico”. Este conceito é explicitado na distinção entre razões e causas. Numa explicação causal, está pressuposto que cada efeito tenha uma causa identificada por uma hipótese, que pode e deve ser rejeitada ou revista quando surgem novas provas. As explicações causais são legítimas em contextos científicos porque as acções têm origens que derivam de determinados estados dos quais não temos conhecimento anterior. A maior parte das acções e do comportamento humanos, contudo, são mal servidos pela explicação causal porque os agentes têm a capacidade de apontar razões que justifiquem os seus comportamentos. “Autonomia” indica assim que os agentes têm capacidade e autoridade para garantir o auto-exame e a auto-justificação. Neste sentido, uma diferença principal entre a investigação científica e filosófica é que a ciência utiliza fenómenos externos, isto é, o mundo natural, para testar as suas hipóteses; a filosofia, por seu lado, admite apenas auto-investigação ou investigação interna. É menos uma questão de verdade e erro e mais uma questão de testar julgamentos que digam respeito à “justeza” da proposição em relação a conhecimento ou experiência anteriores.
Esta é uma forma de começar a esclarecer as confusões conceptuais que circundam a ideia de teoria nos estudos sobre o cinema; por exemplo, as razões pelas quais Bordwell e Carroll têm estado tão ligados a uma certa ideia de ciência, mas também as razões pelas quais a teoria, mesmo a partir de uma perspectiva cultural ou psicanalítica, continua a ser tão sedutora para um grande número de pessoas suficientemente inteligentes. Tomando a questão de Turvey, “Porque é que continua a haver uma falta de investigação empírica na teoria do cinema se a natureza e as funções do cinema são como as leis que governam os fenómenos naturais? Porque parece esse tipo de pesquisa de alguma forma desnecessária para os teóricos do cinema? E de que forma é que as teorias do cinema alguma vez convenceram alguém da sua plausibilidade na ausência de uma investigação assim sustentada?”78 Porque estes critérios são irrelevantes para a investigação cultural. As teorias do cinema, como toda a investigação humanística, dizem respeito a actividades humanas, e por isso presumem um alto grau de conhecimento anterior, mesmo de auto- conhecimento e exame. Tal como qualquer actividade cultural, o cinema é uma criação humana, e assim está ligado a práticas e instituições que formam a base da nossa existência quotidiana. Podemos não ter conhecimento consciente destas práticas ou instituições, nem desejo algum de construir teorias sobre elas sob a forma de proposições ou conceitos; e contudo agimos sobre e através delas de formas coerentes e consistentes. Esta é a razão pela qual as teorias culturais podem possibilitar o acordo na ausência da investigação e experimentação empíricas. O seu poder e plausibilidade é baseado no facto de parecerem tornar claro aquilo que já sabemos e fazemos diariamente. Não precisamos aqui de nenhum exame externo que vá para além da investigação crítica das nossas próprias práticas na sua evolução histórica. Contudo, aquilo a que os estudos do cinema têm chamado teoria, nos seus múltiplos e variados disfarces, pode ser chamado, com mais adequação, de estética ou filosofia. E, de facto, talvez possamos alcançar uma maior clareza metodológica e conceptual se pusermos provisoriamente de lado a “teoria” de forma a examinar aquilo com que uma filosofia das humanidades e, de facto, uma filosofia do cinema, se podem parecer.
*
Preferia ter chamado a este ensaio Éloge de la Théorie, porque ao compor uma elegia pela teoria tive em conta a subtil variação presente na palavra francesa. Esta combina o sentido inglês de eulogy e elegy, e para além disso, um éloge pode ainda ser tanto canção elogiosa quanto canto fúnebre, panegírico e chanson d’adieu. (Para além disso, contém ainda a ideia de um julgamento legal decidido a favor de alguém). Acredito certamente que a empresa da teoria ainda vale a pena. Então porque é que, no discurso crítico contemporâneo, há tão poucos que ainda a respeitam e ninguém que a adore?
Temos, em primeiro lugar, de olhar para o debate sobre a teoria a partir do ponto de vista das correntes epistemológicas concorrentes. Acusada de “ateísmo epistemológico”, a teoria foi um conceito arrancado à Europa para ser devolvido semanticamente aos ramos da ciência e ao terreno da filosofia analítica anglo- saxónica. Inicialmente, este debate era entendido como um conflito entre a teoria e a filosofia. Mas o segundo Wittgenstein levou a discussão numa outra direcção, que também questionava a teoria, mas enquanto forma de desviar a filosofia da ciência e devolvê-la às humanidades. Neste sentido, Wittgenstein estava menos preocupado com a perfeição epistemológica da linguagem filosófica e mais em reivindicar a antiga tarefa da filosofia, a de ser theoria. Apesar de a política e a epistemologia da teoria terem sido sujeitas a muita investigação e crítica epistemológicas, é contudo importante encontrar e fazer permanecer na teoria o eco distante da sua ligação à filosofia, ou à theoria, de forma a devolver uma dimensão ética à auto-examinação epistemológica. Tal como Wittgenstein nos tentou ensinar, aquilo de que precisamos depois da teoria não é da ciência, mas de um novo diálogo entre a filosofia e as humanidades, no qual ambas se refazem de formas originais. Recentemente, tenho defendido que o ataque de Wittgenstein à teoria é tão alargado quanto restritivo, mas aqui é mais importante mapear aquilo que o último Wittgenstein traz para a filosofia das humanidades. Ao libertar o questionamento humanístico das amarras da explicação empírica e causal, uma filosofia das humanidades pode fazer asserções proposicionais, mas estas asserções não têm de ser verificáveis – apenas requerem persuasão e auto- justificação clara e confiante. Isto acontece porque as teorias das humanidades são centradas na cultura. Ao contrário da investigação sobre os fenómenos naturais, a investigação filosófica examina aquilo que os homens já sabem e fazem, e este conhecimento é, em princípio, público e acessível a todos. No sentido que Bordwell dá ao termo, a “naturalização”, boa ou má, tem aqui pouca relevância porque a (auto)-investigação humanística não requer que se encontre informação nova, mas antes que se clarifique ou avalie aquilo que já sabemos e fazemos, ou sabemos fazer, e perceber porque é que isso tem valor para nós. No seu ênfase descritivo, as investigações filosóficas de Wittgenstein estabelecem fortes bases para um aspecto importante da poética histórica – a análise das normas internas dos objectos culturais e das nossas actividades quotidianas produtoras de sentido em relação a tais objectos. Contudo, é preciso ter aqui em conta, por razões filosóficas específicas, uma noção não-empírica de História. As leis naturais são independentes do tempo, pelo menos num contexto humano, e assim são devidamente exploradas através de explicações causais verificáveis. Em alternativa, o conhecimento cultural é histórico num determinado sentido. Surge e evolui no contexto de interacções sociais múltiplas, diversas e opostas, que requerem uma reavaliação constante, numa escala de tempo humana. A história humana e a história natural não podem ser investigadas com os mesmos meios, mesmo que em relação a determinados problemas os seus campos se articulem. Ao contrário do cientista, o humanista tem de examinar fenómenos que podem estar a alterar-se debaixo do seu nariz. Deve ter em conta a mudança enquanto esta ocorre, e enquanto ele próprio poderá estar num processo de auto-transformação.
Em que medida é, então, ainda possível a empresa da teoria? E como podemos devolver à filosofia a especificidade da sua actividade? Estas duas questões são diferentes mas estão relacionadas, e estão as duas ligadas ao destino das humanidades no século XXI e ao lugar do cinema no destino das humanidades. Possíveis respostas começam por reconhecer que esse ateísmo epistemológico não resulta de uma crítica ética da modernidade. E, de facto, o que liga hoje a filosofia às suas raízes é a relação entre os projectos de avaliação dos nossos estilos de conhecimento e o exame dos nossos modos de existência, bem como as suas possibilidades de transformação. Quero concluir com a breve exploração destas questões, através do comentário de dois filósofos contemporâneos que são exemplo das relações entre os projectos de avaliação ética e epistemológica: Gilles Deleuze e Stanley Cavell. Deleuze e Cavell são os dois filósofos contemporâneos que sustentam um compromisso mais forte com o cinema, apesar de defenderem concepções originais e distintas acerca da especificidade da filosofia e da expressão filosófica na sua relação com o cinema. Apesar de ser uma parelha improvável, a leitura destes dois filósofos em conjunto pode aprofundar e clarificar a sua contribuição original para a nossa compreensão do cinema e da filosofia contemporânea. Aqui quero deixar claro que uma filosofia (do cinema) pode e deve ser distinguida da teoria. Ao mesmo tempo, quero discernir, para as humanidades, um espaço metacrítico fluído de auto-avaliação epistemológica e ética, a que poderemos continuar a chamar “teoria” se assim quisermos.
Os livros de Deleuze sobre o cinema apresentam-nos dois pares de elementos que mostram aquilo com que a filosofia do cinema se pode parecer. Estes elementos são recorrentes no trabalho filosófico de Deleuze. Por um lado, temos a relação do Conceito com a Imagem. Aqui, a criação de Conceitos define a autonomia da actividade filosófica, enquanto que a Imagem se torna a chave para perceber a subjectividade e a nossa relação com o mundo. O segundo par implica a original reconsideração que Deleuze faz da apresentação Nietzschiana da actividade ética como interpretação e avaliação filosófica.
Deleuze termina Cinema 2: A Imagem-Tempo com uma queixa curiosa em relação à teoria. Logo em 1985, afirma, a teoria tinha perdido o seu lugar honroso no pensamento sobre o cinema, parecendo abstracta e desligada da criação e da prática. Mas a teoria não está separada da prática do cinema porque ela é, em si mesma, uma prática ou uma construção de conceitos.
Porque a teoria também é algo que se faz, não menos que o seu objecto. . . . Uma teoria do cinema não é “sobre” o cinema, mas sobre os conceitos que o cinema suscita e que estão, eles mesmos, relacionados com outros conceitos correspondendo a outras práticas. . . . A teoria do cinema não incide sobre o cinema, mas sobre os conceitos do cinema, que não são menos práticos, efectivos ou existentes que o próprio cinema. . . . Os conceitos do cinema não são dados no cinema. E, no entanto, são os conceitos do cinema e não teorias sobre o cinema. De tal forma que há sempre uma hora, meio-dia – meia-noite, em que já não nos perguntamos “O que é o cinema?” mas “O que é a filosofia?”. O próprio cinema é uma nova prática das imagens e dos signos, da qual a filosofia, como prática conceptual, tem que fazer a teoria.” 79
A deslocalização é aqui óbvia, com a teoria a ocupar o lugar da filosofia. Mas, dito isto, o que deseja Deleuze implicar com a queixa de que o momento contemporâneo é fraco no que diz respeito à criação e aos conceitos? A resposta mais completa surge naquele que é o sucessor mais óbvio dos problemas levantados nos livros sobre o cinema – O que é a Filosofia?, de Deleuze e Guattari.
Para Deleuze e Guattari, os três grandes domínios da criação humana são a arte, a filosofia e a ciência. Estes são domínios relativamente autónomos, cada um envolvendo actos de criação fundados em modos de expressão distintos – perceptiva, conceptual ou funcional. O problema levantado em O que é a Filosofia? é o de saber em que difere a expressão filosófica das expressões artística ou científica, permanecendo porém em diálogo com estas. Percepções, conceitos e funções são diferentes modalidades expressivas, e cada um pode influenciar os outros, mas não de forma que afecte a autonomia da sua actividade produtiva. Não há dúvida que um artista ou um cientista se envolve profundamente na actividade conceptual, e que é assim influenciado pela filosofia. Contudo, os resultados de tal actividade – as percepções, as funções – garantem a sua autonomia e especificidade.
Por um lado, a diferenciação destes resultados é facilmente explicável. O objectivo da ciência é criar funções, o da arte é criar agregados sensoriais, o da filosofia é criar conceitos; porém, o problema está nos detalhes. Na arte, as percepções referem-se à criação de experiência afectiva através da construção de materiais sensoriais. Na pintura, estes materiais expressivos podem ser blocos de linhas/cores; no cinema, blocos de movimento/duração/sons. Por outro lado, o papel das funções ajuda a clarificar a relação da filosofia com a teoria no sentido científico. Existe uma função, diz Deleuze, quando duas totalidades são postas numa correspondência fixa. A lei do quadrado inverso de Newton dá-nos um exemplo adequado. Uma função é uma expressão matemática que orienta o pensamento (primeira totalidade) para um fenómeno natural (a propagação da energia). Enquanto expressão, a função não é obviamente o fenómeno específico nem é análoga ao pensamento. A função é um descritor ou algoritmo. A sua descrição dos comportamentos no mundo natural é importante, mas esta não é a chave da sua especificidade. É abstracta e geral, e a sua generalidade deriva da sua independência em relação ao tempo. Produz descrições, e estas descrições são válidas para todos os tempos e todos os lugares – assim propõe uma segunda totalidade. Na sua previsão de comportamentos futuros, então, a função é exemplar daquilo a que a ciência chama “teoria”, e quando esta previsão se torna regular, as funções tornam-se “leis”.
Pelo contrário, o conceito é abstracto mas singular – relaciona-se com o pensamento na sua própria temporalidade e especificidade humanas. Por estas razões, a filosofia está muito mais próxima da arte do que da ciência. A expressividade da arte encontra a sua instanciação nos produtos sensoriais da arte e nos afectos humanos, enquanto que a expressividade da ciência encontra a sua confirmação nos comportamentos previsíveis dos fenómenos naturais. Mas os conceitos apenas exprimem pensamento e actos do pensamento. Isto significa que o pensamento é puramente uma actividade interior desligada do mundo sensível e material? A arte dá respostas importantes a esta questão, relacionando o conceito e as ideias, os signos e as imagens. Em 1991, Deleuze deu um importante seminário na FÉMIS (École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son), a escola francesa de cinema e televisão, do qual um excerto se encontra publicado sob o título “Ter uma Ideia no Cinema”. O que significa ter uma Ideia na arte e de que forma diferem as Ideias dos Conceitos? As Ideias são específicas de um domínio, de um meio ou de um material. Deleuze escreve, “As Ideias devem ser tratadas como potenciais que já estão articulados com este ou aquele modo de expressão, e que são inseparáveis dele, tanto que não posso dizer que tenho uma ideia em geral. Dependendo das técnicas que conheço, posso ter uma ideia num determinado domínio, uma ideia no cinema ou então uma ideia na filosofia” 80. As ideias na filosofia já são orientadas por um certo tipo de imagem, aquilo a que Deleuze chama a “imagem do pensamento”, e assim uma conexão ou relação deve ligá- las. Em O que é a Filosofia?, a imagem do pensamento é definida como o terreno específico ou plano de imanência a partir do qual as ideias emergem como expressão pré-conceptual, ou como “a imagem que o pensamento dá a si próprio daquilo que significa pensar, orientar-se a si mesmo no pensamento” 81. Ter uma Ideia é, então, exprimir o pensamento através de construções particulares, combinações ou ligações – aquilo a que Deleuze chama signos. Como insistiu Spinoza, os signos não são uma expressão do pensamento mas dos nossos poderes de pensar. As ideias não são separáveis de uma sequência ou sequencialidade autónoma de ideias no pensamento, aquilo a que Spinoza chama concatenatio. A concatenação de signos une forma e matéria, constituindo o pensamento como um automaton espiritual cuja potentia exprime os nossos poderes de pensamento, acção ou criação. A importância dos livros de Deleuze sobre o cinema prende-se com o facto de apresentarem a sua perspectiva mais completa de uma semiótica filosófica modelada a partir do movimento e do tempo, e mostrarem como as imagens e os signos no movimento ou no tempo são conceptualmente inovadores; isto é, como renovam os nossos poderes de pensamento. Desta forma, a arte relaciona- se com a filosofia porque as imagens e os signos implicam uma expressão pré- conceptual, da mesma forma que a imagem do pensamento envolve uma expressão protoconceptual – preparam o terreno para o surgimento de novos conceitos. O cinema pode estar mais preparado para retratar o pensamento e para apelar ao pensamento porque, tal como o pensamento, as suas ideias são compostas por movimentos, espaciais e temporais, caracterizados por determinadas formas de conexões e conjunções. Cada instância da arte é expressiva de uma ideia que implica um conceito, e o que a filosofia faz em relação à arte é produzir novas construções ou conjuntos que exprimem ou dão forma aos conceitos implicados nas ideias da arte. Torna perspicazes e exprime de forma conceptual os automatismos que tornam as ideias generativas da arte uma necessidade.
Também existe uma dimensão ética nas várias formas como Deleuze caracteriza a imagem e o conceito na sua relação com as imagens do pensamento. Para Deleuze, isto implica uma ética Nietzscheana que engloba duas actividades inseparáveis: a interpretação e a avaliação. “Interpretar”, escreve Deleuze, “é determinar a força que dá sentido à coisa. Avaliar é determinar a vontade de poder que dá valor à coisa” 82. O que faz aqui a ponte entre Deleuze e Cavell não é apenas o seu interesse mútuo em Nietzsche, mas também a sua concepção original de ontologia. Apesar de Cavell usar a palavra e Deleuze não, ambos estão a avaliar uma determinada forma de Ser. Esta não é o ser ou a identidade do cinema, ou aquilo que identifica o cinema enquanto arte, mas antes as formas de ser que a arte provoca em nós – ou, mais concretamente, como o cinema e as outras formas de arte exprimem por nós ou nos devolvem as nossas formas de ser passadas, presentes e futuras. Em ambos os filósofos, a relação ética é inseparável da nossa relação com o pensamento. Porque a forma como pensamos, e a questão de saber se sustentamos ou não uma relação com o pensamento, está ligada aos nossos modos de existência e às nossas relações tanto com os outros como com o mundo.
A forma de compreender esta relação em Deleuze é perceber a originalidade da sua concepção da imagem tanto como um conceito ontológico quanto ético. Particularmente nos livros sobre o cinema, a imagem não é o produto da criação cinematográfica mas o seu material em bruto, a substância mundana que é formada e à qual é dada expressão. É assim que se justifica a frase chave de Henri Bergson em Matéria e Memória, de que já existe fotografia nas coisas. Tal como a energia, as imagens não podem ser criadas nem destruídas – são um estado do universo, uma percepção ou luminosidade universal e não-subjectiva, que evolui e varia continuamente. A percepção humana é assim, em grande parte, um processo de subtracção. Uma vez que temos que nos orientar neste vasto regime de mudança universal usando apenas o nosso limitado contexto perceptivo, extraímos e formamos imagens ou percepções especiais de acordo com os nossos limites psicológicos e necessidades humanas. Esta imagem é a própria forma da nossa subjectividade, e persiste no cruzamento entre os nossos estados internos e as relações externas que estabelecemos com o mundo.
A imagem está assim em relação com nós mesmos (interioridade) e em relação com o mundo (exterioridade) de uma forma intimamente interactiva. É absurdo referir-se à subjectividade como interioridade pura, uma vez que esta está constantemente numa relação com a matéria e com o mundo. Da mesma forma, o pensamento não é interioridade mas a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo, orientando-nos e criando a partir dos materiais que este nos oferece. Assim, outra forma de considerar a autonomia da arte, da filosofia e da ciência é avaliar as diferentes, estando embora relacionadas, imagens do pensamento que nos oferecem. A percepção é visual e acusticamente sensorial, provocando-nos afectos ou emoções. Os conceitos e as funções são mais abstractos. Aquilo que a função é para a expressão científica, é o signo para a expressão estética. A relação da arte com o pensamento jaz então não na substância das imagens mas na lógica da sua combinação e encadeamento. Não há dúvida que cada imagem artística é uma imagem do pensamento, um traço físico e expressão do pensamento através de uma forma sensível, independentemente da sua incoerência ou deselegância. Contudo, mesmo que o signo estético possa implicar um conceito preciso, é apesar de tudo inteiramente afectivo e pré- conceptual. Há, porém, poder filosófico nas imagens. A Ideia do artista não é necessariamente a do filósofo. Mas as imagens não traçam apenas pensamentos e produzem afectos; elas podem também provocar o pensamento ou criar novos poderes de pensamento. Ao fazê-lo, somos atirados do pensamento sensível para o pensamento abstracto, de uma imagem do pensamento para o pensamento sem imagem – este é o domínio da filosofia. E, ao irmos de um para o outro, a arte pode inspirar a filosofia a dar forma a um novo conceito.
O que é que a filosofia valoriza na arte? Perguntar isto é questionar que forças expressas na arte, através de imagens e signos, apelam ao pensamento? A filosofia partilha o caminho da ciência naquilo que implica tomar o tempo como variável independente – de facto, a forma mais simples de descrever o projecto filosófico de Deleuze (ou Bergson) é dizer que exprimem a vontade de reintroduzir o tempo e a mudança na imagem do pensamento filosófica. A filosofia encontra inspiração na arte porque é nela que a vontade de criar é trazida pelos seus mais altos valores. Assim, como de muitas outras formas, Deleuze vai contra a tendência da filosofia contemporânea. Uma vez que a ciência, felizmente, nunca renunciou aos seus poderes de criação, foi-se tornando cada vez menos conceptual. E, claro, não precisa de conceitos como precisa a filosofia. Pelo contrário, a filosofia aproximou-se cada vez mais da arte, e vice-versa. Esta é a grande história por contar da filosofia do século XX, e aquela que o século XXI deve recontar: que as maiores inovações da filosofia não foram feitas na sua relação com a ciência, mas no seu diálogo com a arte. E, ainda, que as artes modernas se aproximaram cada vez mais da expressão filosófica, sem deixarem nunca de ampliar os seus poderes estéticos.
Que a arte possa ser considerada expressão filosófica é uma importante relação entre o interesse de Cavell e Deleuze no cinema. Tal como Deleuze, os livros de Cavell sobre o cinema não são estudos dos filmes mas estudos filosóficos – são, em primeiro lugar, e de forma mais importante, obras de filosofia. Contudo, também não é inapropriado lê-las como estudos sobre a cultura cinematográfica, devido à sua profunda consciência da forma como o cinema penetrou na vida quotidiana do ser e na mente no século XX. De formas muito diferentes, tanto Deleuze como Cavell entendem o cinema pela forma como este expressa formas de estar no mundo e de nos relacionarmos com o mundo. Neste sentido, o cinema é já filosofia, e uma filosofia intimamente ligada com a nossa vida quotidiana. Deleuze exemplifica esta ideia quando liga o Matéria e Memória do Bergson ao cinema dos primeiros tempos. No momento em que a filosofia regressa aos problemas do movimento e do tempo na sua articulação com o pensamento e a imagem, o dispositivo cinemático surge não como um efeito destas questões, nem estabelecendo uma analogia com elas. Da sua própria forma, é a expressão estética de problemas filosóficos actuais e persistentes. Também não se pode dizer que o pensamento de Deleuze seja simplesmente influenciado pelo cinema. Em vez disso, é a expressão filosófica directa, sob a forma de conceitos e tipologias de signos, dos problemas apresentados pré-conceptualmente sob a forma estética. Cavell apresenta uma perspectiva semelhante, apesar de estar mais claramente enquadrada pelos problemas da ontologia e da ética. No meu ponto de vista, o trabalho de Cavell é exemplar de uma filosofia de e para as humanidades, particularmente naquilo que diz respeito à sua tentativa original de equilibrar as preocupações da epistemologia e da ética. Neste sentido, duas ideias principais unem o trabalho filosófico de Cavell com o seu trabalho sobre o cinema. Estas não são ideias separadas, e são melhor entendidas como iterações do mesmo problema, que se sucedem uma à outra mais ou menos cronologicamente, nomeadamente, o confronto filosófico com o cepticismo e o conceito de perfeccionismo moral. A questão aqui é a de saber porque é que o cinema é tão importante enquanto companheiro ou exemplificação deste confronto. Uma pista é avançada no título de um importante ensaio de Cavell, “Aquilo a que a Fotografia chama o Pensamento” 83. O que significa dizer que a arte ou as imagens pensam, ou que respondem a problemas filosóficos como uma forma de pensar ou um estilo de pensamento? Na primeira fase da filosofia do cinema de Cavell, representada pelo período que medeia a publicação de O Mundo Visto, as respostas a esta questão são ontológicas e epistemológicas. Mas esta ontologia não diz respeito nem ao medium da arte nem à identidade das obras, mas antes à forma como a arte expressa os nossos modos de existência ou formas de estar no mundo enquanto queda no cepticismo e a sua superação. Aqui, uma ontologia do cinema está menos preocupada em definir o medium do cinema, e mais direccionada para a compreensão da forma como as nossas formas de estar no mundo e de nos relacionarmos com ele são “cinemáticas”. Nas suas próprias condições de apresentação e percepção, o cinema exprime um determinado problema filosófico, o do cepticismo e da sua superação. Se, como Cavell argumenta, o cinema apresenta “uma imagem em movimento do cepticismo”, este porém não exemplifica nem é análogo à atitude céptica84. Antes, o cinema exprime tanto o problema quanto a sua possível superação. A qualidade do “movimento” nesta imagem filosófica é temporal ou histórica num determinado sentido. Enquanto dispositivo para ver e encontrar o mundo, o cinema apresenta o dilema histórico da filosofia (o cepticismo enquanto disjunção perceptual em relação ao mundo) como passado, enquanto orienta o sujeito moderno na direcção de um futuro possível. Que o cepticismo se reproduza numa tecnologia da visão pode querer dizer que este já não é o ar ontológico que respiramos, mas uma fase transitória da nossa cultura filosófica. Se, como Cavell argumenta, a realidade que o filme apresenta é a da nossa condição perceptiva, então este abre a possibilidade de podermos voltar a estar presente para nós, ou de reconhecer como podemos voltar a estar presentes para nós (de facto, a análise que Cavell faz da relação do cinema com o destino do cepticismo ajuda a clarificar a ética cinemática deleuziana enquanto fé neste mundo e nas suas possibilidades de mudança85). Por estas razões, o cinema pode já ser o emblema do cepticismo em declínio. O cinema fica com o que a filosofia deixa para trás, como expressão pré-conceptual da passagem para outra forma de ser. Esta é a razão pela qual o cinema é tanto uma apresentação do cepticismo como a renúncia ao cepticismo – a realização quase perfeita da percepção céptica como forma de nos ligarmos outra vez ao mundo e, por outro lado, declararmos a sua força existencial como uma presença feita passado. A ironia desta compreensão, neste momento, é que a modernidade pode já não caracterizar os nossos modos de ser e de ver, e que devemos então antecipar outra coisa.
Nos principais livros que se seguem, culminado em Cities of Words, a temporalidade desta condição epistemológica é reconsiderada como uma questão da arte e da avaliação ética. O conceito chave da avaliação ética é aquilo a que Cavell chama o perfeccionismo moral. O perfeccionismo moral é a expressão não-teleológica de um desejo de mudança ou de transformação. Aqui, a nossa cultura cinemática não responde a um dilema da percepção e do pensamento mas antes a um imperativo moral. Esta trajectória das questões ontológicas às questões éticas é exemplo da forma como Cavell usa o cinema para aprofundar a sua descrição da condição subjectiva moderna como suspensa entre um domínio mundano ou epistemológico e um domínio moral. Em ambos os casos, o cinema confronta o problema do cepticismo. Na primeira instância, este é expresso como um desapontamento epistemológico, a compreensão de que estamos afastados do mundo pela nossa própria subjectividade – tudo aquilo que podemos conhecer do mundo é apreendido por detrás do ecrã que é nossa consciência. A segunda responde a um desapontamento moral em relação ao estado do mundo, ou ao meu modo actual de existência. Esta divisão não é apenas formal; é também, e talvez em primeiro lugar, temporal. Tal como Kant colocou a questão, o lugar da compreensão, do conhecimento dos objectos e das suas leis causais, define a atitude científica moderna, cujo formidável poder deriva de fazer do tempo uma variável independente. O que é desconhecido no mundo natural não pode ser conhecido através dos poderes do raciocínio causal se as regras puderem ser alteradas com o decorrer do tempo. Mas o problema que tanto desafiava Kant era o facto de a razão atemporal estar em conflito com a liberdade moral. Ser humano é experienciar a mudança. Então, como pode a filosofia caracterizar a humanidade, simultaneamente, enquanto sujeito da compreensão e da razão, enquanto sujeito de relações causais e expressão da liberdade moral? Sendo que, enquanto criaturas materiais, estamos ligados ao mundo empírico e às suas leis causais, o trabalho da filosofia é explicar como somos também livres para experienciar e antecipar a mudança, na projecção de existências futuras. Assim sendo, a concepção de Cavell do perfeccionismo moral leva-nos das formas do cepticismo às possibilidades de mudança humana, e para o profundo problema moral de avaliar o nosso modo contemporâneo de existência e transcendê-lo na antecipação de uma melhor existência futura. Na primeira etapa, o problema é ultrapassar o meu desespero moral por não poder conhecer o mundo; no segundo, o meu desespero de querer mudá-lo e mudar-me a mim próprio. Assim, o interesse de Cavell em Emerson (ou em Wittgenstein, ou em Nietzsche ou em Freud) vai no sentido de curar esta ferida na filosofia, exemplificada pelo desapontamento de Wittgenstein com o conhecimento, que falha em tornar-nos melhor do que aquilo que somos, ou que não nos dá paz. Enquanto alternativa, o perfeccionismo moral pega inicialmente neste sentido de desapontamento ético e inquietude ontológica, apanhando o sujeito moderno no seu desejo de auto-transformação, cuja temporalidade é a de ser sem finalidade. “No sentido que dão Emerson e Thoreau à existência humana”, escreve Cavell, “não está em questão alcançar um estado final da alma, mas apenas e infinitamente dar o próximo passo em direcção àquilo a que Emerson chama ‘um inalcançado mas alcançável ser” – um ser que é sempre e nunca nosso – um passo que não nos leva do mau para o bom, ou do errado para o certo, mas da confusão e do constrangimento para o auto-conhecimento e a sociabilidade”.86
Esta ideia forma a base dos livros posteriores de Cavell, sobre as comédias do recasamento e os melodramas da mulher desconhecida. O interesse do cinema para esta questão reside em dar conta do filme enquanto expressão ordinária ou quotidiana das profundas preocupações da filosofia moral. E, tal como Wittgenstein, que procurou deslocalizar a expressão metafísica para a linguagem ordinária e as preocupações quotidianas, o cinema traz a filosofia moral para o contexto da expressão dramática quotidiana:
Estes filmes devem antes ser pensados como diferentes configurações das questões intelectuais e emocionais que a filosofia já explora, mas em relação às quais talvez tenha virado as costas prematuramente, particularmente depois da sua profissionalização, ou academização... Aquilo que aqui se implica em relação ao cinema é que este, a última das grandes artes, mostra a filosofia como sendo muitas vezes a acompanhante invisível das vida comuns que o cinema está tão apto a capturar.
Onde a filosofia contemporânea rejeitou a sua promessa de perfeccionismo moral, o cinema respondeu através da forma pré-conceptual de toda a arte e expressão sensível. Assim, o grande projecto da filosofia do cinema actual é não só ajudar a revigorar esta reflexão moral, mas preencher esta falha na relação da filosofia com a vida quotidiana.
No prólogo a Cities of Words, Cavell retoma o lamento de Thoreau, “Hoje há professores de filosofia, mas não filósofos. E, contudo, é admirável professar porque foi uma vez admirável viver”. Tão bem que Thoreau anteviu a difícil vida da filosofia nos séculos XX e XXI. Se devemos compor uma elegia para a teoria, tenhamos porém esperança que isso acorde uma nova vida para a filosofia no presente milénio.
An Elegy for Theory (Harvard University Press; prevista a publicação no Verão de 2008).
Editor, The Afterimage of Gilles Deleuze’s Film Philosophy (University of Minnesota Press; prevista a publicação no Outono de 2008).
The Virtual Life of Film. Cambridge: Harvard University Press, 2007.
Reading the Figural, or, Philosophy after the New Media. Durham: Duke University Press, 2001.
Gilles Deleuze's Time Machine. Durham: Duke University Press, 1997; second printing 1998.
The Difficulty of Difference: Psychoanalysis, Sexual Difference, and Film Theory. New York: Routledge, 1991.
The Crisis of Political Modernism: Criticism and Ideology in Contemporary Film Theory. Urbana: University of Illinois Press, 1988.
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k27441
Página pessoal de D. N. Rodowick. Contém textos, artigos, programas dos seminários leccionados em Harvard e bibliografias.
http://www.hno.harvard.edu/gazette/2005/02.10/03-rodowick.html
Entrevista com Rodowick, feita para a Harvard Gazette, intitulada “When is a philosopher not a philosopher? When he's film scholar David Rodowick” (2005)
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic242308.files/Dikovitskaya.htm
Entrevista mais extensa com Rodowick, realizada em 2001 por Margaret Dikovitskaya. Visual Culture: The Study of the Visual After the Cultural Turn. Cambridge: MIT Press, 2005. 258-267.
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic242308.files/Bytes.htm
“Framing Reality: Augen-Blinzeln—Bytes and Celluloid,” conversa entre Hans Zischler, Lone Scherfing, Thomas Y. Levin e Benedict Neuenfels e D. N. Rodowick. The Einstein Forum, Festival de Cinema de Berlim, 9 de Fevereiro de 2003, Potsdam, Alemanha
http://www.film-philosophy.com/vol7-2003/n56mules.html
Recensão de Reading the Figural, or Philosophy after the New Media, por Warwick Mules, publicada na Film-Philosophy, vol. 7, no 56, Dezembro 2003
http://www.ves.fas.harvard.edu/rodowick.html
Página de Rodowick no departamento de Visual and Environmental Studies Textos Online
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic242308.files/RodowickElegyOctober .pdf
“An Elegy for Theory.” October 121 (Summer 2007): 99-110.
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic242308.files/RodowickVirtualLife.p df Parte 1 The Virtual Life of Film. Cambridge: Harvard University Press, 2007.
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic242308.files/FiguralText.html
"Reading the Figural," Camera Obscura 24 (1991): 11-44
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic242308.files/ShortHistory.html
“A Short History of Cinema”, in Gilles Deleuze's Time Machine. Durham: Duke University Press, 1997; second printing 1998.
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic242308.files/DNRDifference.html
Prefácio a The Difficulty of Difference: Psychoanalysis, Sexual Difference, and Film Theory. New York: Routledge, 1991.
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic242308.files/DNRCrisis.html
Prefácio a The Crisis of Political Modernism: Criticism and Ideology in Contemporary Film Theory. Urbana: University of Illinois Press, 1988.
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic242308.files/RodowickETHICSweb. htm
“Ethics in film philosophy (Cavell, Deleuze, Levinas).”
http://www.rochester.edu/in_visible_culture/issue3/rodowick.htm
“Unthinkable Sex: Conceptual Personae and the Time-Image,” (In)Visible Culture 3 (2000).
http://www.tate.org.uk/onlineevents/archive/deleuze.htm
Webcast: “Immanent Choreographies: Deleuze and Neo-Aesthetics,” Tate Modern, London, England, 21-22 September 2001.
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic242308.files/Paradoxes.html
"Paradoxes of the Visual," October 77 (Summer 1996): 59-62.
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic242308.files/AVCulture/1AVCHome .html Apresentação multimédia do ensaio “Audiovisual Culture and Interdisciplinary Knowledge: A Digital Essay.”
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic242308.files/AudiovisualCultureTex t.html “Audiovisual Culture and Interdisciplinary Knowledge,” New Literary History 26 (1995): 111-121.
http://multitudes.samizdat.net/spip.php?rubrique540
Dossier da revista Multitudes dedicado a Stanley Cavell. Inclui artigos de Sandra Laugier (co-autora de Stanley Cavell: cinéma et philosophie) e de Stanley Cavell, entre outros.
http://globetrotter.berkeley.edu/people2/Cavell/cavell-con0.html
Harry Kreisler convida Stanley Cavell em 2002, no âmbito da sua visita à Universidade de Berkeley, para o seu programa Conversations with History. Extensa entrevista que foca sobretudo o trabalho de Cavell sobre o Cinema. Para além da transcrição, está também disponível o vídeo com a gravação da conversa.
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.podcast8004.files/12_4_07_1_11_PM.m p3 http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.podcast8004.files/Cavell12_11_07.mp3 Dois podcasts das aulas de Cavell em Harvard, a 4/12/07 e 11/12/07, no âmbito do seminário Film and Philosophy, leccionado por D. N. Rodowick.
http://www.csulb.edu/~jvancamp/361_r2.html
“A Capra Moment”, texto de Stanley Cavell disponível online.
http://www.sensesofcinema.com/contents/01/13/cavell.html
Troca de correspondência entre Rex Butler e Stanley Cavell, a respeito de Pursuits of Hapinness, publicada na Senses of Cinema
http://www.fas.harvard.edu/~phildept/cavell.html http://www.upi.com/NewsTrack/Quirks/2001/12/31/thinking_about_life_sta nley_cavell/3995/ Duas biografias de Cavell, uma do Departamento de Filosofia de Harvard, outra preparada pela The Harvard Review of Philosophy