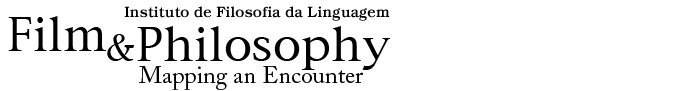(Joana Pimenta)
Ian C. Jarvie (n. 1937) especializou-se nas áreas da Filosofia da Ciência, da Sociologia e da Filosofia do Cinema. É-lhe atribuído o título de doutor em 1961 pela London School of Economics da Universidade de Londres, sob a tutela de Karl Popper, e é editor da revista científica Philosophy of the Social Sciences desde a sua fundação. Presentemente, Jarvie é professor jubilado da York University em Toronto.
Começa a escrever sobre cinema na Film Quarterly, com um artigo controverso sobre a ontologia baziniana em 1960 e a defesa da crítica objectiva do cinema em 1961. Segue-se a publicação de Towards a Sociology of Cinema e Movies and Society em 1970, e em 1987 é publicada a sua obra mais emblemática Philosophy of the Film: Epistemology, Ontology, Aesthetics. Deve-se ainda referir, sem querer porém fazer uma lista exaustiva, a publicação em 1992 do estudo Hollywood Overseas campaign: North Atlantic Movie Trade 1920- 1950, e em 1999 de Is Analytic Philosophy a Cure for Film Theory?, em que revê não só os pressupostos da filosofia analítica como também o seu enquadramento nesta corrente.
Jarvie propõe que desloquemos a discussão em torno da essência do cinema para a filosofia estética, a definição de cânones, e para a construção de uma teoria objectiva, baseada na teoria da ciência e aplicando uma metodologia científica que até ao surgimento da filosofia analítica era estranha ao cinema. Estabelece assim um método fundado na descrição objectiva, na análise comparada e no teste das asserções. Diz que a sua tarefa é a de ser sugestivo, abrir assuntos e fornecer metodologias, em vez de estabelecer verdades que possam ser defendidas enquanto teoria por outros às quais são estranhas.
Jarvie apresenta uma teoria programática que pode ser dividida em três partes: uma primeira preocupada com as questões epistemológicas e ontológicas, em que vai procurar distinguir de que forma o cinema constitui um problema para a filosofia, sem porém nunca se centrar na sua essência enquanto objecto material; uma segunda, na qual se preocupa com o facto de o estatuto artístico tanto do cinema em geral como de um filme em particular serem assuntos para a filosofia estética; a terceira e última, a partir da qual procura saber de que forma a filosofia se manifesta no cinema. São estas três direcções que procuraremos explicitar.
As questões que assim conduzem a análise que se propõe são as de saber se: É real? É belo? É verdadeiro? A questão de saber se é real liga-se, por um lado à questão de saber se é verdadeiro, e é em torno de ambas que Jarvie estrutura uma parte do seu pensamento. Os filmes são de interesse filosófico porque levantam questões em torno da verdade e da realidade do ponto de vista da nossa relação com ambas, tais como as de saber o que nos leva a querer esquecer que o mundo que o cinema apresenta não é real (a suspensão da descrença que é discutida desde Aristóteles), ou qual a natureza dessa suspensão que deixa a cognição e o afecto trabalhar. É sobretudo na primeira parte de Philosophy of Film que Jarvie articula estas questões epistemológicas e ontológicas, partindo do idealismo de Berkeley e da Alegoria da Caverna de Platão para desenvolver as questões da identidade do cinema, nunca de um ponto de vista material mas sempre abstracto. Influenciado por Munsterberg mas rejeitando Cavell, acaba por apresentar como teoria que talvez não exista solução para a questão de saber em que difere a realidade real da realidade filmada, mas que pode ser que seja nessa oscilação que podemos aprender sobre as formas da nossa construção de mundos.
Em relação à questão de saber se o cinema “É belo?”, Jarvie considera importante colocá-la não porque considera que se possa encontrar uma resposta afirmativa mas porque os filmes, uma vez que exigem uma avaliação independente porque são diferentes de toda a experiência estética anterior, podem levar a uma discussão em torno dos cânones estéticos das outras artes. Assumindo a sua admiração por Gombrich (apesar de Jarvie ser bastante crítico do realismo) e a importância do papel que este desempenha na sua teoria, Jarvie avalia três argumentos contra o cinema enquanto arte (o facto de ser recente, assentar na reprodução mecânica e se dirigir às massas) para o reafirmar enquanto tal e mostrar a necessidade de estabelecer critérios avaliativos sob a forma de cânones estéticos que respondam às necessidades de uma arte que deve ser considerada tendo em conta a sua identidade e diferença. A possibilidade de definir cânones integra o cinema numa tradição e prova o argumento pro-arte.
Por último, em relação à questão da verdade, é esta que guia as propostas em torno da crítica objectiva e da leitura cognitiva que pode ser feita quando se consideram filosoficamente os filmes. É inevitável que a leitura seja interpretativa, mas pode porém procurar aproximar-se o mais possível da verdade estabelecendo para isso um método que apresente provas daquilo que se interpreta a partir dos filmes, e que permita assim, pela análise comparada de várias leituras, estabelecer o que mais se aproxima da verdade última que está no filme. Só assim é possível ir na direcção daquilo a que, na ciência, corresponde à expansão do conhecimento: a expansão do poder interpretativo.
Como é manifesto, no pensamento de Jarvie a resposta às questões que coloca surge no seguimento das discussões que tomam como princípios condutores os critérios propostos. Cumpre também o seu propósito, quando diz tomar como modelo Platão, Berkeley e Russell em vez de Hegel, Husserl e Heidegger: o de escrever de uma forma pouco esotérica argumentos facilmente compreensíveis, e de procurar a cada momento deixar aberta ao teste a validade das suas afirmações. Tudo isto faz com que o seu trabalho possa ser abordado por qualquer pessoa com alguma familiaridade com o discurso filosófico, mas talvez o torne demasiado pedagógico ou programático. Este é um resultado que Jarvie tentava constantemente contrariar, mas que acaba por se tornar inevitável.
1. Epistemologia e Ontologia – questões articuladas pelo cinema
Os dois problemas centrais da filosofia que o cinema permite articular sob uma outra luz são os problemas do ser e do conhecimento. Do ponto de vista ontológico, os filmes levantam imediatamente questões sobre o que existe porque mostram um mundo que parece o nosso mas que sabemos que não é real. De um ponto de vista epistemológico, e tendo sido defendido que para sabermos o que existe temos primeiro de saber o que conhecemos, os filmes evidenciam o problema da discussão entre aparência e realidade, levantando as questões da decepção e da superficialidade.
Porém, o que Jarvie considera ser filosoficamente interessante no cinema em relação a estas questões é o facto de as pessoas lidarem com problemas filosóficos sem pensarem neles, voluntariamente e divertindo-se com isso, e conseguirem assim o que a maior parte das teorias não consegue: resolverem- nos. Suspendemos a crença e a distinção entre o que é real e o que é ilusão para articularmos um mundo mais coerente do que o nosso (o mundo filmado), tornarmo-nos familiares com as suas convenções e temos assim uma hipótese de nos libertarmos dos constrangimentos que o real nos impõe, sem nunca esquecermos que o mundo no ecrã não é o mundo real. Podemos distinguir nos filmes qualquer coisa que se parece com o mundo mas que não é, definitivamente, o mundo, e somos assim encorajados a aprender sobre o nosso projecto de constituição do mundo a partir da ordem, inteligibilidade e individuação, com a constituição do mundo que fazemos no cinema.
Jarvie, como tantos outros autores, dedica-se a analisar a Alegoria da Caverna de Platão no sentido de evidenciar de que forma podemos usar o cinema para enfrentar o problema metafísico da aparência e da realidade. A sua originalidade reside na resposta que dá: não podemos enfrentá-la, esta é uma hipótese que requer testes constantes. Todas as fronteiras entre o real e o irreal são hipóteses, mas enquanto na ciência se atacam estas hipóteses, alterando constantemente o inventário das coisas que se consideram reais, no cinema brincamos com elas. Esta questão é muito importante para Jarvie porque se ser espectador de um filme é a reencenação da caverna de Platão, então os habitantes da caverna não são prisioneiros mas aqueles que procuram o prazer. Criam condições reais no mundo real que permitem experienciar na imaginação um mundo que sabem, tanto emocionalmente como cognitivamente, não ser real, e libertam-se assim da caverna. Estamos assim conscientes da ilusão e pagamos alegremente para sermos enganados – sendo o cinema uma arte popular, isto prova, para Jarvie, que todos somos filósofos porque todos conseguimos dominar a arte de cruzar permanentemente a fronteira entre o que é real e o que não é, e temos capacidade de pensar sobre ela sem precisarmos de ajuda das elites (entende aqui as elites como os pensadores e filósofos que acreditam poder ajudar as massas a encontrar o seu caminho). As pessoas comuns usam o cinema para poderem entender e relacionar-se com o mundo que habitam, sabendo sempre que este se distingue do mundo que vêem e ouvem enquanto espectadores. É desta forma que, para Jarvie, “o cinema refuta o entendimento platónico da caverna para subverter, na pessoa comum, a ideia de que os sentidos são guias para o conhecimento”.
2. O Realismo Crítico
Analisa os problemas relativos à epistemologia e à ontologia que o cinema articula a partir do estudo da fenomenologia e do realismo sensorial para chegar à conclusão que as fragilidades destas duas teorias, tanto no que diz respeito ao facto de a fenomenologia não ser capaz de discernir uma diferença entre o mundo filmado e o mundo real, como ao facto de o realismo sensorial gritar convictamente que há uma diferença que corresponde a algo profundo e escondido, tentando resolver assim verbalmente a questão do verdadeiro ou falso, são fragilidades que não se colocam se se adoptar o realismo crítico que Jarvie reivindica. Este é menos vulnerável porque não é dogmático – antes, procura testar as hipóteses, utilizando para isso dados empíricos de forma a provar a validade das suas asserções. O realista crítico parte de uma posição hipotética – se se toma como princípio que existe uma diferença entre o mundo real e o mundo filmado, em que consiste e de que forma pode ser detectada? Reconhece que esta é uma questão complexa, mas se a ontologia sensorial dá soluções pré-estabelecidas e a fenomenologia respostas subjectivas, o realista crítico assume por sua vez que pode ser que não haja resposta, que talvez se tenha de balançar na superfície daquilo que todos experimentamos quando vamos ao cinema, analisar a perspectiva da pessoa comum que raramente é enganada pelo cinema e o crê como real mas que, porém, não ignora essa possibilidade. “Fazendo-o e testando-nos continuamente, resolvemos [o problema]” (Jarvie, 1987: 65). É certo que o cinema abala os problemas do conhecimento e do ser porque temos uma relação diádica na qual, ao mesmo tempo, estamos no mundo e estamos no filme, mas é ao confrontar-nos com os nossos próprios processos mentais que nos torna menos susceptíveis à ilusão e à alucinação. A auto- consciência do nosso dilema é inalterável, mas é no seu teste contínuo que podemos encontrar respostas: é porque avaliamos continuamente a realidade que os filmes nos apresentam (da mesma forma que avaliamos as teorias) que aprendemos a distinguir as duas realidades, a lidar com a fronteira entre a realidade e a sua aparência. “Os filmes, portanto, trazem de volta o problema da aparência e da realidade, desde a atmosfera rarefeita da disputa filosófica, devolvem-no às pessoas, que o reconhecem como uma preocupação básica e que aprendem a resolvê-lo numa base de rotina e de jogo. Concretizado e desmistificado, envolve uma função mental básica, a da cognição, e embora os filmes não nos mostrem como a cumprimos, mostram-nos que podemos cumpri-la e de facto a cumprimos”.
3. A filosofia da ciência como metodologia para a teoria do cinema
Num ensaio de 1999 intitulado Is Analytic Philosophy a Cure for Film Theory, Jarvie afirma que começou por se identificar com os autores que enquadram os princípios da filosofia analítica na teoria do cinema, de entre os quais Noël Carroll é o maior exemplo, porque estes foram os primeiros que libertaram a teoria do cinema da negligencia que esta mostrava em relação à análise dos filmes. Até aos anos 70, esta ou se fundava numa teoria essencialista do medium que não deixava espaço para pensar as obras em particular, ou, quando o fazia, servia apenas para tentar aplicar-lhes os princípios que cada autor defendia; ou então era assente numa filosofia continental e marcadamente política, que procurava entender de que forma os filmes populares reforçavam sobretudo a ideologia capitalista dominante, funcionando numa amálgama de psicanálise, marxismo e análise semiótica. A filosofia analítica, pelo contrário, reabria as questões estéticas sobre o medium negando que tudo fosse político e aplicando, para esse efeito, uma teoria racional e clara. É neste sentido que Jarvie se enquadra, para indicar depois que há questões que precisam de ser esclarecidas em relação à filosofia analítica, sobretudo naquilo a que a filosofia de Carroll fica a dever à teoria essencialista, que Jarvie rejeita activamente.
Acaba por se distanciar da filosofia analítica porque não crê que a argumentação clara e o respeito pelos princípios da ciência sejam suficientes para afastar as dúvidas de que tais pressupostos constituam uma teoria. O que Jarvie propõe é uma teoria do cinema que não seja meramente um conjunto de definições mas que apresente antes soluções que possam ser generalizadas, testadas e criticadas. Só isto pode definir uma teoria. Para Jarvie, é preciso deixar de fetichizar a teoria do cinema e começar a levá-la a sério, aplicar-lhe os mesmos princípios que se utilizam nas ciências, porque só isso permitirá criar uma teoria sólida da qual se possa partir para fundamentar uma discussão da qual resultem cânones estéticos, que acredita serem indispensáveis à legitimação do cinema. Estes surgem a partir da crítica objectiva, que torna a avaliação um processo racional e discutível, mas que também permite chegar a conclusões que possamos assumir como verdadeiras.
4. A reivindicação da crítica objectiva
“Towards an Objective Film Criticism” propõe assim uma teoria prescritiva em relação ao que deveria ser uma crítica do cinema que contrarie subjectividade que torna impossível a refutação e o teste da verdade. A ideia de que há princípios discerníveis e verdadeiros foi bastante discutida, mas a sua negação revela apenas a incapacidade em encontrá-los. É desta forma que são abertas as portas ao subjectivismo e ao relativismo total, bem como à ideia de que é impossível julgar objectivamente. Porém, não é o compromisso com uma determinada teoria e a aplicação de determinados pressupostos que permite chegar à objectividade. É pela crítica racional do cinema que podemos aprender e chegar a acordo em relação ao significado e valor dos filmes, e esta só pode ser realizada se enquadrada numa tradição que institucionaliza a discussão das interpretações críticas e avaliações.
Jarvie apresenta neste sentido uma série de argumentos. O primeiro começa por resguardar o que se vai dizer de um ataque imediato porque indica que nada do que pode ser dito pode ser assegurado como verdade absoluta: uma vez que a crítica é feita por seres humanos, que não podem ser programados, no final só o filme pode falar por si. Mas isto não quer dizer que a objectividade não seja possível, uma vez que é necessário analisar as fundamentações do gosto e ver se estas se aplicam não só a um filme em particular mas aos outros filmes de que se gosta ou não se gosta. Para isso, é necessário empreender uma análise comparada muito rigorosa, o que aponta imediatamente para o modelo da objectividade na ciência, naquilo que tem de semelhante com o confronto dos resultados. Porém, e se Jarvie toma realmente como modelo da objectividade a ciência, há uma independência e desafectação em relação ao objecto estudado que é impossível igualar. O que está em causa, e que deve ser realmente tido em conta, é o facto de no cinema se dever ser objectivo no sentido em que os argumentos terem de ser inter-subjectivamente testáveis e criticáveis. Para isso é necessário, segundo Jarvie, deixar de gritar alto que o Umberto D é um filme sobre os valores humanos, por exemplo, e passar a apresentar situações que possam provar o argumento, de forma a que o leitor possa as testar por ele próprio. Os princípios que tal método vem a produzir são cânones, passíveis de serem revistos, estabelecidos sobretudo por princípios limitativos pela negação (uma vez que é mais sensato definir o que é mau do que limitar à partida o que pode vir a ser bom). Os críticos, por sua vez, devem prestar atenção ao que é produzido pelos seus colegas e, se tiveram alguma coisa diferente a dizer, devem argumentá-la tendo em conta o que já foi produzido. Devem também abandonar a ideia de que uma obra de arte é um produto da inspiração de um artista e que, assim, tem um sentido e um valor óbvios e determinados à partida.
Estes princípios são estabelecidos para que se promova a discussão ao mesmo tempo que se possam dar certas coisas como garantidas. Como veremos em seguida, isto é fundamental para qualquer arte, e é o caminho a percorrer no sentido da tão indispensável avaliação estética.
5. “Qual o Problema da Teoria do Cinema?” – A filosofia estética enquanto organizadora dos factos históricos
Jarvie parte da ideia de que a teoria do cinema, tanto a clássica como a moderna, é uma amalgama compacta de várias teorias que se misturam mas não se combinam. “Nos estudos do cinema as teorias existem para explicar factos, e, se assim é, quais são os factos que necessitam de explicação?” – Jarvie parte do princípio de que a formação de cânones (a avaliação crítica baseada em fundamentos estéticos) é indispensável para organizar a história do cinema, para assim concluir que o que precisa de explicação são os factos da história do cinema, a sua organização e avaliação. Estes problemas têm, no seu ponto de vista, sido negligenciados tanto pela teoria clássica do cinema, que se centrou na ontologia do medium, quanto pela teoria moderna, que se preocupou com as questões ideológicas. Assim, a resposta às insuficiências das filosofias essencialistas (que procuram respostas sobre o valor dos filmes a partir da essência do medium), do pragmatismo tolstoiano (que procura mostrar que há um objectivo útil que o cinema serve e que lhe dá o valor da arte), do colectivismo (que associa a filosofia estética à tomada de partido pela humanidade) e do historicismo (que parte da ideia de que há um fim último para o qual se caminha), passa pela filosofia estética enquanto organizadora dos factos históricos.
Os três problemas prioritários para a organização dos factos históricos numa teoria do cinema são, por ordem de urgência: a) o problema do valor em geral, que assume que há filmes bons e outros maus, e que por isso se devia decidir os valores de que dispomos para julgar e se se deve ordenar; b) o problema do valor em particular, que depende do anterior e que parte do princípio que, estando constituídas listas segundo o valor dos filmes, devemos encontrar nelas padrões de avaliação e excelência, procurando dar voz a sentimentos sobre o mérito; c) o problema da legitimação do cinema enquanto arte, que Jarvie considera menos importante, no sentido em que se desde sempre discutimos o medium-cinema como uma arte, isto significa que este está já instituído enquanto tal.
O cinema precisa da definição de cânones para poder inscrever a tradição, no sentido em que só assim se pode descrever, avaliar e identificar-se. A teoria do cinema e as discussões em torno dela são passos preliminares no sentido de fazer crescer tal tradição. Segundo Jarvie, “é ao procurar fazer-se do cinema uma arte falando dele como tal, ao procurar um cânone e critérios, que estamos em última análise a ratificar o valor da própria experiência do cinema”. O problema da teoria do cinema é então tornar o cinema um objecto estético por meio de discussões e da sugestão de filmes canónicos, respeitando uma metodologia que permita submeter ao teste tais avaliações.
6. Problemas filosóficos nos filmes: metodologia de análise
Depois de se ter tentado explicitar brevemente a formulação feita por Jarvie das questões epistemológicas, ontológicas e estéticas chega-se, por fim, à definição das condições que tornam possível a análise filosófica dos filmes. Jarvie começa por tornar explícitas as questões de método e de interpretação. A filosofia do cinema de Jarvie não trabalha a base material do cinema porque esta não coloca problemas filosóficos – a filosofia põe-se nos filmes (“puts itself into their films”) enquanto objecto abstracto, mas as condições que tornam possível pensar o cinema enquanto objecto abstracto não estão teorizadas. Sendo a filosofia entendida como uma actividade cognitiva realizada numa linguagem discursiva, e sendo os filmes complexos de sons e imagens verbais e não- verbais, antes de procedermos à análise temos de pôr o filme em palavras. Apresenta assim como projecto a tentativa de encontrar um comentário o mais verdadeiro possível que olhe para o filme no seu todo, incluindo os comentários não-verbais, a consideração da mise-en-scène, da narrativa e dos actores. Seguindo o modelo da teoria prescritiva a que já nos habituámos, Jarvie apresenta as quatro etapas às quais é necessário responder na análise filosófica dos filmes: 1. demanda – a personagem principal procura resposta a um problema; 2. atitude – o filme adopta um ponto de vista; 3. tese – pela sua voz, oferece uma tese; 4. enquadramento – toda a produção intelectual toma como ponto de partida determinados pressupostos que não questiona e que dá como adquiridos. Todos os filmes são filosóficos mas uns são mais interessantes na sua abordagem, visto que o que é filosoficamente interessante é a revelação de algo imperceptível na filosofia: a produção de um novo criticismo, a detecção de uma inconsistência filosófica. Há sempre pressupostos culturais por detrás de um filme, e o trabalho da filosofia é também expor e criticar estes pressupostos. A filosofia do cinema de Jarvie pretende assim penetrar nas ideias expressas no entretenimento popular e submetê-las ao teste da verdade. Para isso têm de ser parafraseadas fora do seu contexto original: temos de ser capazes de isolar e rotular os componentes filosóficos, isolar os argumentos e identificar a sua estrutura, no sentido de analisar de que forma mantêm a sua coerência, verdade, moralidade, e validade de argumentos. Assim, enquanto metodologia para a análise dentro da produção da própria teoria, e tendo em conta que a teoria dos filmes parte de uma teoria interpretativa em que a refutação está instituída como a forma mais forte da crítica, Jarvie vem apresentar uma outra alternativa para esta refutação, que pode ser feita a partir da análise comparada de comentários que permite, pela sua justaposição, perceber as incoerências que contêm.
O que Jarvie está aqui a atacar directamente é a concepção da análise filosófica do cinema tal como acredita ser feita por Stanley Cavell, que diz utilizar determinados filmes apenas para lhes fazer valer as teorias que lhes quer aplicar. Pelo contrário, o que deve ser descortinado é a filosofia que está presente nos próprios filmes, e não de que forma estes se adequam a teorias já estabelecidas. A análise que Jarvie faz de Citizen Kane, Rashomon, Persona e de três filmes de Woody Allen consiste em leituras cognitivas que analisam, respectivamente e para dizê-lo em poucas palavras, a questão da essência da pessoa (em Kane), da relatividade da verdade (no filme de Kurosawa), da máscara enquanto enquadramento (no de Bergman) e da integridade moral nos filmes de Woody Allen. O caminho que percorre para chegar a estas conclusões é feito através da execução dos passos que se começou por apresentar, juntamente com um conjunto de regras que Jarvie apresenta para a análise, fundando-se nos pressupostos de Popper, Russell e Kuhn. Estas dizem sobretudo respeito à lógica, extenso desenvolvimento e rigor da interpretação com que devem ser construídos os argumentos.
Jarvie confronta-se aqui com a última questão que apresentámos para guiar esta discussão das três linhas gerais que atravessam o seu pensamento: “É verdade?”. As verdades são verdades se corresponderem aos factos, e se se adoptar como pressuposto uma teoria da verdade relativa, associada sobretudo a Bertrand Russell, na qual a verdade é a relação entre as asserções e o mundo, então é preciso esclarecer o método a utilizar para extrair as asserções a partir das obras de arte. É por aí que pode surgir o comentário o mais verdadeiro possível (i.e., neutro, respeitador daquilo que o filme mostra), que tenta depois integrar o filme num contexto e que assume a interpretação como aquilo que permite preencher as lacunas. Parte-se assim do princípio de que os filmes não são auto-suficientes, e procede-se também pela análise das interpretações anteriores de forma a criticá-las e melhorá-las. Isto é o que permite produzir uma melhor interpretação, que seja mais adequada àquilo que o filme diz de si próprio e que preencha mais lacunas, de forma a resultar, através da detecção do erro e da falsidade, no aumento daquilo que é, para a teoria do cinema, o poder interpretativo - ao qual a ciência chamaria o aumento do conhecimento.
1. A Filosofia Analítica é a Cura para a Teoria do Cinema?
Cynthia A. Freeland e Thomas E. Wartenber, ed., Philosophy and Film (PF), Routledge Kegan Paul, Londres, 1995.
Richard Allen e Murray Smith, ed., Film Theory and Philosophy (FTP). Clarendon, Oxford, 1997.
Noël Carroll, A Philosophy of Mass Art (APMA). Clarendon, Oxford, 1998.
Teoria do cinema. Hoje em dia, é um lugar comum tratar o cinema, mudo ou sonoro, apenas como outro medium da arte. Contudo, durante um longo período de tempo, os filósofos da arte, e não menos aqueles inclinados para a filosofia analítica, ignoraram os filmes. Tomemos em conta esse monumento da hegemonia analítica, a Encyclopedia de Filosofia de 1968 (Edwards 1967). Para seu mérito, John Hospers, na entrada “Problemas de Estética”, inclui categoricamente o “cinema” ou as “imagens em movimento” na sua classificação das artes por medium. Apesar disso, o índex não faz nenhuma referência ao cinema, ao filme, às imagens em movimento ou a filmes. The Philosopher’s Índex depois de 1970 mostra o quanto as coisas mudaram. Durante o período da negligência, se se queria levar os filmes a sério só se podia olhar para filósofos alemães e franceses (da filosofia continental) como Hugo Munsterberg (1916), Rudolf Harms (1926) e Gilbert Cohen-Séat (1946).
Estes eram esforços filosóficos isolados. A maior parte dos textos sobre o cinema antes dos anos 70 foram escritos por um grupo heterogéneo de estetas, freelancers, realizadores, jornalistas, e que mais. Estes escritores invariavelmente racionalizavam o seu interesse em termos não- estéticos. Afirmando que o medium tinha poder para influenciar a sua audiência, viam-no como tendo potencial tanto para a emancipação como para a opressão. Os textos sobre o cinema de então, e muito mais que os textos sobre as artes clássicas, misturavam a estética e a política; por fim, sob o nome de “teoria do cinema”, as duas fundiram-se. Se os textos sobre o cinema eram algo politizados antes dos anos 70, isso não era nada em relação ao que veio em seguida. Não só o conteúdo dos filmes, como as convenções usadas, e até o “apparatus” utilizado (tal como o ponto de vista narrativo e as pressuposições assim articuladas a respeito da audiência) eram pensados para evidenciar as opressões da sociedade. As convenções e o apparatus eram entendidos como manipulando os espectadores sem que estes tivessem consciência. George Wilson, autor do excelente Narration with Light (1986), descreve a “teoria do cinema” como representando os filmes enquanto “uma prisão para os perceptualmente inertes” (PF, p. 58). Parece que os filósofos analíticos da arte, galvanizados pelos excessos da “teoria do cinema” e pela sua própria negligência no passado em relação ao cinema, decidiram agora libertar o pensamento sobre o cinema do “despropósito, sofismo e dogma” (FTP, p. 29) da filosofia continental e da política de esquerda. No seu lugar, a filosofia analítica propunha clareza de expressão e de argumentos, lógica e respeito pela ciência. Perita em fazer distinções em vez de as desfazer, os filósofos analíticos negavam implicitamente que tudo fosse político, e procuravam reabrir as questões puramente estéticas sobre a natureza do medium e as suas forças. Contudo, as questões da verdade e do valor da arte, que são enquadradas na teoria do cinema pela política, mal afloram à superfície da maior parte dos textos da filosofia analítica sobre o cinema. Quando os primeiros tiros foram dados, eu próprio me contava entre os apoiantes dos filósofos analíticos. Ler o seu trabalho em bloco levantou agora a questão de saber se terão encontrado a cura para a teoria do cinema, sobre a qual mais alguma coisa tem de ser dita.
Há muita coisa errada com aquilo que responde pelo nome de teoria do cinema, a começar pela palavra teoria. Como veremos, não há clareza nem precisão no uso desta palavra pela escola analítica. Teoria designa normalmente um sistema geral e explicativo. A teoria do cinema, por outro lado, confunde a teoria com sistema(s) teórico(s). Noël Carroll, num dos seus primeiros trabalhos, descreve a teoria do cinema como “uma amálgama de psicanálise, marxismo e semiologia” (Carroll 1988b, 2). Existem várias abordagens à forma como uma mistura tão incoerente de sistemas teóricos radicalmente divergentes capturou o pequeno mundo dos estudos do cinema por volta dos anos 70. Comum a todas é a sedução derivada do suposto radicalismo intelectual e político dos seus constituintes: ligavam o criticismo do cinema ao projecto económico, político, libidinal, e até linguístico de emancipação da humanidade. Teoria do cinema era, então, não tanto uma teoria dos filmes mas uma frase de código para a critica de filmes feita por esquerdistas em geral e subgrupos especializados em particular – feministas, minorias, gays, e por aí fora.
A teoria do cinema assentava na premissa de que o intenso estudo dos filmes comerciais de Hollywood poderia expor o seu papel como parte do aparelho ideológico de estado, ou como iterações da lei paternal, ou como perpetuações da opressão das mulheres, ou como manifestações de uma heterossexualidade obrigatória. O perigo de que isto possa parecer um reducionismo rude é evitado pelo uso da viragem para a dialéctica: os filmes são obras de arte, têm inscritas as contradições culturais, e o escrutínio destes revelará actos subversivos de resistência, exposições das contradições do capitalismo, e outras coisas parecidas. Os “textos” fílmicos analisados sob este ponto de vista providenciavam dois tipos de prazer, um prazer culpado e outro purificador: o culpado é a aniquilação do prazer que você e eu temos nos filmes que nos entretêm; o prazer purificador é o prazer que a crítica progressista tem em expor os filmes tanto quanto cúmplices quanto enquanto crítica do sistema.
O sabor de tal argumentação pode ser encontrado nos ensaios de PF, uma obra que tem uma atitude ecuménica em relação à filosofia analítica e à teoria do cinema. Thomas E. Wartenberg, co-editor, dá-nos estas surpreendentes (pelo menos para os analíticos) notícias: “Na cena intelectual contemporânea, são os defensores do Iluminismo que batalham para mostrar que a sua visão não e corrompida pelo fracasso do não-reconhecimento da diferença” (PF, p. 161). Wartenberg não partilha connosco de onde estes valores progressistas incorruptos vêm, se não do Iluminismo. O seu ensaio “Unlike Couples” é uma longa análise de White Palace (1990), um filme no qual um jovem corrector da bolsa descobre valores profundos e a verdadeira felicidade através da sua relação romântica com uma velha empregada de mesa. O filme retrata as diferenças de idade, religiosas, educacionais, e de classe, entre o casal, e o seu ultrapassar porque o desejo lhes devolve o sentimento verdadeiro, através da superação comum da perda pessoal. Wartenberg defende que a mensagem aparentemente progressista em relação a este romance, que fazia a ponte entre as classes, desaparece quando as ambiguidades do filme em relação às origens da classe do herói são expostas a uma leitura mais sistemática. “O sentimento de que o fim do filme trai a sua mensagem fundamental é tal que não se resume às respostas e interpretações do espectador; está presente no texto fílmico em si” (PF, p. 177). Para um argumento no mesmo sentido, mas sem a dialéctica, veja- se o que diz Wilson sobre a interpretação, em seguida.
Kelly Oliver, “The Politics of Interpretation: The Case of Bergman’s Persona” defende que a ideologia subjacente a Persona é a inclinação para a morte tipicamente Hegeliana / Lacaniana. Contudo, defende, na forma como retrata as duas mulheres protagonistas, a sua dependência mútua, a sua fusão, a sua reentrada final na sociedade, o filme é esperançoso, e não pessimista. Logo, subverte a sua própria ideologia. Estes dois ensaios demonstram que a aplicabilidade da dialéctica é ilimitada. O método é o seguinte: atribui-se uma ideologia dominante ao filme, encontram-se elementos que não se encaixam nesta atribuição, e a seguir declara-se que o filme subverte “a sua própria” ideologia. O movimento de impor uma interpretação a um filme, em primeiro lugar, para escrever como se a interpretação pertencesse ao filme, é tão forçado que até desilude os seus próprios praticantes. Compare-se outra vez com o ponto de vista de Wilson sobre a interpretação, discutido em seguida.
Noël Carroll, em The Philosophy of Horror (Carroll 1990), afirma que o monstro do filme de terror é uma criatura que não é conhecida da ciência. Cynthia A. Freeland, co-editora com Wartenberg, aponta que isto exclui o “terror realista” de Psycho e Henry, Portrait of a Serial Killer. Filmes como estes colocam o ênfase no espectáculo e no erotismo. A tentativa aristotélica de Carroll de distanciar a violência feroz do monstro não os acompanha. Freeland utiliza a crítica ideológica para evidenciar que os filmes de terror realistas criam discursos de conhecimento e poder que servem os interesses conservadores e patriarcais. Felizmente, Freeland permite que nós, as massas, a audiência, possamos resistir à lavagem cerebral se lermos os filmes de outra forma. Freeland quer satisfazer-se com a teoria do cinema e depois contrariar a sua reivindicação de que o medium controle as nossas respostas.
Wartenberg, Oliver e Freeland são exemplos (moderados) de teóricos que mistificam os filmes, em vez de clarificá-los. Será que todos os filmes subvertem a sua própria mensagem, como defendem alguns desconstrutivistas, ou apenas alguns filmes? Se são apenas alguns, então quais? Para além disso, para que interessa se o filme destrói a sua própria mensagem se a sua maior influência é derivada do apparatus? Se não somos controlados pelo apparatus, então o que resta a não ser a política?
(...)
Resultado. Então, será a filosofia analítica a cura para a teoria do cinema? Diria antes que argumentos claros e respeito pela ciência não são suficientes para afastar todas as dúvidas. Por um lado, o essencialismo de tantos praticantes conduz à escolástica e ao pedantismo. Estes escritores preocupam-se mais em bloquear os contra-exemplos uns dos outros do que com os problemas em si. Por outro, há uma instabilidade em relação àquilo que é ou não uma teoria. Definições não são teorias. Teorias são soluções gerais para problemas, e devem ser testáveis, na melhor das hipóteses, ou criticáveis, na pior. As taxinomias servem os propósitos teóricos, não o contrário. Em terceiro, há incerteza em relação à identidade da filosofia analítica em si. Eu nunca consegui decidir se era um filósofo analítico no sentido que eles lhe davam. Certamente que muitos de nós subscrevem os valores da clareza, lógica, e respeito pela ciência. A clareza, contudo, não é um fetiche, é um valor relativo, relativo ao propósito em causa. Desta forma é como uma medição, que é sempre precisa e rigorosa em relação ao problema em causa. Os centímetros são valores precisos para o carpinteiro, não para o físico atómico. Qual é o propósito em causa?
Levar a ciência a sério pode ser aqui a chave. Carroll e os outros gostam de dizer que os modelos freudianos e lacanianos da mente são incongruentes em relação às últimas descobertas da ciência, os modelos cognitivos da mente. Mas eles estudam, e citam, filósofos, não cientistas. Porquê? Porque as fronteiras disciplinares são fetichizadas. A filosofia analítica é uma das muitas tentativas de legitimar a profissionalização da filosofia dando-lhe um método que só ela pratica. Tal essencialismo é contrariado pelo facto histórico de que a filosofia é compreensiva. Seguir o rasto histórico a alguns problemas levantados no princípio da filosofia implica quase sempre atravessar as fronteiras “disciplinares”, incluindo aquelas que dividem as ciências, natural e social. Nunca nestes livros é feita uma referência às investigações da psicologia sobre a visão, audição, organização da mente, cognição, e a capacidade de entender as histórias e o sentido. Já foi notada a inobservância de Noel Carroll em relação à literatura das ciências sociais sobre a sociedade de massas e a comunicação de massas. Ponha-se em contraste com o exemplo do primeiro filósofo do cinema realmente importante, Munsterberg, que era também um psicólogo social experimental. O seu trabalho delineou as problemáticas científicas e filosóficas de base do medium, tal como existia em 1916. Houve um outro medium que ultrapassou este primeiro em 1926, à luz do qual tivemos que modificar alguns dos seus problemas e juntar-lhe outros. É possível que algumas das formas como ele olhou para a mente não estejam já na ordem do dia, isto é, tenham sido refutadas. Mas se estiverem, quando é que vamos ter uma reconstrução racional séria: para rever os seus problemas científicos e filosóficos, e a história dos debates em torno deles, dos seus avanços e recuos, desde 1916?
Há um conjunto de problemas que Munsterberg não evitou, mas que estes trabalhos da filosofia analítica evitam completamente, e que são as questões do julgamento, avaliação e valor. Há muito mais a dizer contra a teoria do cinema do que aquilo que foi recapitulado neste ensaio, mas pelo menos os seus partidários fazem avaliações. Enquanto os filósofos analíticos andarem em torno da questão de saber o que chamar às coisas, estarão por defeito a deixar a avaliação para aqueles que recorrem à dialéctica. Uma razão pela qual a filosofia analítica evita a avaliação é porque podemos criticar uma avaliação mas não justificá-la. A equação analítica entre a racionalidade e a justificação condu-los assim à impotência avaliativa. A sua noção de racionalidade está em causa: o criticismo é necessário e suficiente para a racionalidade. Isto limpa a nossa consciência intelectual fazendo da avaliação, em princípio, um processo ligeiramente menos racional que a ciência em si.
JARVIE, Ian. “Bazin's Ontology” Film Quarterly, Vol. 14, No. 1 (Autumn, 1960): 60-61.
_____. “Towards an Objective Film Criticism” Film Quarterly, Vol. 14, No. 3 (Spring, 1961): 19-23.
_____. Philosophy of the Film: Epistemology, Ontology, Aesthetics. New York: Routledge & Kegan Paul, 1987.
_____. “Qual é o problema da teoria do cinema?” Revista de Comunicação e Linguagens, no. 23 (Dezembro 1996): 9-20.
_____. “Is Analytic Philosophy the Cure for Film Theory?” Philosophy of the Social Sciences 1999; 29; 416.
MONTEIRO, Paulo Filipe. “Fenomenologias do Cinema” Revista de Comunicação e Linguagens, no. 23 (Dezembro 1996): 61-112.
http://mc1litvip.jstor.org/stable/1211073
“Bazin’s Ontology”, artigo de Ian Jarvie disponível através da Jstor.
http://links.jstor.org/sici?sici=0015- 1386%28196121%2914%3A3<19%3ATAOFC>2.0.CO%3B2-8 “Towards an Objective Film Criticism”, artigo de Jarvie disponível através da Jstor
http://pos.sagepub.com
“Is Analytic Philosophy the Cure for Film Theory?”, artigo disponível para os subscritores das publicações Sage
http://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Jarvie
Entrada de Jarvie na Wikipedia
http://utpress.utpress.utoronto.ca/cgi- bin/cw2w3.cgi?p=jalbert&t=56261&d=1064 Pequena cronologia e bibliografia no “Canadian Who’s Who”