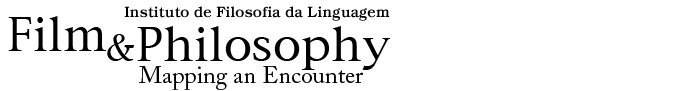(Susana Nascimento Duarte)
Jean-François Lyotard, filósofo, escritor, ensaísta, nasceu em Versalhes a 10 de Agosto de 1924, e faleceu a 21 de Abril de 1998, em Paris.
Hesitante quanto à sua vocação, escolhe, depois de abandonar várias aspirações, desde a vida monástica à pintura, passando pela escrita literária e pela história, estudar filosofia e literatura na Sorbonne. Aí estabelece amizades com Michel Butor, Roger Laporte e François Châtelet. A agregação em filosofia ocorre em 1950, e o seu doutoramento será obtido vinte anos mais tarde, com uma tese orientada por Mikel Dufrenne, da qual resulta o livro Discours, Figure, publicado em 1971.
Entre 1950 e 1952, ensina no liceu Constantine na Argélia e envolve-se em actividades sindicais. Regressa a França para dar aulas na escola militar de La Flèche, onde fica até 1959. Publica o seu primeiro livro, La Phénoménologie, em 1954, altura em que, com Pierre Souyri, de quem ficara amigo na Argélia, se torna membro da organização Socialisme ou Barbarie, fundada em 1949 por Cornelius Castoriadis, Claude Lefort e militantes oriundos da extrema esquerda. Com os seus camaradas de então produz um marxismo radicalmente anti-estalinista, crítico do totalitarismo e da burocracia própria dos países comunistas, através do qual o grupo se demarca do meio marxista francês, em particular do trotskismo. Nesta altura, Lyotard publica, sob pseudónimo, vários artigos dedicados à questão argelina (publicados em 1989, numa recolha intitulada La guerre des Algériens), militando em favor da libertação da Argélia. Incompatibilizando-se com o grupo Socialisme ou Barbarie, em 1964 participa na fundação de Pouvoir Ouvrier, que abandona em 1966. Tendo deixado de acreditar na legitimidade do marxismo enquanto teoria totalizadora, Lyotard volta-se para o estudo e a escrita filosóficas. Entre 1959 e 1966, Lyotard é maître-assistant na faculdade de Letras e Ciências Humanas de Nanterre (Paris X). Durante os acontecimentos de Maio de 1968 participa nas actividades do Mouvement du 22 mars. Em 1970 passa a ensinar filosofia no centro experimental de Vincennes (Paris VIII), fundado logo após o Maio de 68, e depois no departamento de filosofia da Universidade de Paris VIII, entretanto transferida para Saint-Denis, onde fica até 1987. Em 1975 é aí nomeado professor e mais tarde professeur émérite. Na mesma universidade, entre 1970 e 1982, é igualmente responsável por uma equipa de investigação sobre a teoria e prática do cinema experimental. A partir de 1974 é muitas vezes convidado como visiting professor por universidades americanas.
O seu interesse pela pintura, patente em várias das suas obras, juntamente com a sua curiosidade pelas ciências e novas tecnologias, levam-no a aceitar ser um dos comissários, juntamente com Thierry Chaput, da exposição Les Immatériaux, no Centre Georges Pompidou, em 1985. Jean-François Lyotard é ainda co-fundador do Collège International de Philosophie, em 1983, a sua presidência, de 1984 a 1986, sucedendo à de Jacques Derrida.
Relativamente à sua extensa obra filosófica, La condition postmoderne (um curto e provocador relatório sobre “a condição do conhecimento nas sociedades mais desenvolvidas”), é talvez o livro pelo qual é mais conhecido. No entanto, trata-se, paradoxalmente, de um dos livros menos representativos do seu pensamento. Sem procurar por enquanto outras formas de olhar para o seu itinerário, é possível ordenar os seus textos em torno dos seguintes quatro momentos principais, como se à filosofia de Lyotard correspondessem várias filosofias: os anos da fenomenologia e da sua crítica, que englobam quer o primeiro livro sobre a fenomenologia (La phénoménologie), quer a primeira grande obra, Discours, Figure, onde aquela é criticada e deslocada, através da defesa da predominância de uma certa psicanálise; os anos da economia libidinal, que dá o nome ao seu segundo maior livro, Économie libidinale (1974), altura de desenvolvimento de um pensamento das pulsões que pressupõe uma crítica feroz do estruturalismo, em todas as suas formas, e uma crítica do marxismo, sublinhando o corte de Lyotard com o seu longo passado militante; de facto, Économie libidinal é um livro que denuncia a teoria como terror e revela, em vez disso, um monismo quase nietzschiano da intensidade como valor. Nesta altura, uma série de ensaios são reunidos em dois livros, Dérive à partir de Marx et Freud e Dispositifs Pulsionnels, que podem ser entendidos como preparações de Économie libidinal. A seguinte aparente ruptura aparece no final dos anos 70, com um livro de conversas (com Jean-Loup Thébaud) sobre justiça (Au juste, 1979), e La condition postmoderne; ambos os livros, de diferentes modos, estão preocupados em colocar as questões éticas e políticas que o trabalho ”libidinal” só podia excluir. Por sua vez, Le différend (1984), prolonga este trabalho em torno do retorno da questão do julgamento e deixa cair muitas das referências e argumentos que suportam o trabalho inicial. Os textos relacionados com a arte e com a estética, se atravessam todos estes momentos, ganham depois de Le différend novos contornos, e os vários estudos sobre pintores que marcam a escrita final de Lyotard – L’assassinat de l’expérience par la peinture, Monory (1984); Que peindre? Adami, Arakawa, Buren (1987), Sam Francis, leçon de ténèbres (1993), Karen Appel, un geste de couleur, bem como uma série de outros ensaios curtos - tinham em vista a preparação de um livro por vir dedicado à arte contemporânea.
Se seguíssemos este itinerário linearmente como um caminho para a frente, perderíamos o essencial: que tais rupturas acabam por trabalhar no sentido de uma coerência, de uma progressão subterrânea
Os campos de reflexão que atravessam a obra de Jean-François Lyotard são múltiplos e a sua intersecção foi sendo marcada por remodelações e deslocações, que traduzem não tanto alterações de interesses – por exemplo, o abandono da política em favor da estética e da ontologia -, mas antes a necessidade de refundar o seu tratamento, de modo a manter a exigência de uma resistência crítica que, depois de quinze anos de uma dedicação quase exclusiva ao questionamento intransigente e de orientação revolucionária no grupo Socialisme ou Barbarie, escolhe como terreno de combate a articulação do político com o estético, abandonando nas suas análises toda a perspectiva revolucionária e passando a interrogar o politico como nome do qual desertou qualquer princípio de alternativa radical ao capitalismo. A estética, enquanto aisthesis, emerge como o lugar impossível de disputa do político ao cepticismo e niilismo do capital.
O pensamento de Lyotard é uma meditação em torno do dever de pensar o reverso da cegueira do capital: como resistir sem o marxismo, sem um sujeito histórico objectivo, sem fins assinaláveis? Tal traduz-se numa deriva filosófica que recebe ao longo do percurso do autor vários nomes, que se organizam em volta de dois eixos fundamentais – os jogos de linguagem, por um lado, o afecto, por outro –, sintomáticos da tensão que domina toda a obra de Lyotard: genericamente a que se estabelece entre a palavra da Lei e o silêncio do desejo.
Esta tensão servir-nos-á de referência para abordar algumas das etapas que escandam o pensamento de Lyotard, privilegiando, contudo, os seus ecos no domínio da reflexão mais explicitamente estética do seu trabalho.
É, assim, possível reconhecê-la em obra desde logo em Discours, Figure, a sua tese de doutoramento, publicada em 1971, no modo como organiza o par discurso/figura, na sua filosofia libidinal, no seu livro maior, Le différend, e nos inúmeros textos que dedicou à arte, nomeadamente ao cinema, mesmo se a sua interrogação a este nível se debruçou preponderantemente sobre a pintura.
Todos estes momentos da sua reflexão testemunham de um fio crítico comum, que nunca foi rompido - o da afirmação, mesmo que implícita, de que o político se mede a um nível micro-político na criação de possibilidades anteriormente informuláveis e é nesse sentido da ordem do pensamento, da escrita, da arte. Face ao declínio de uma certa ideia de política, ao apagamento, na pós-modernidade, desse pólo de negatividade crítica que era o proletariado, face ao desaparecimento de um sujeito histórico eventualmente capaz de se transformar em sujeito revolucionário, Lyotard contrapõe ao longo do seu percurso, a necessidade da fidelidade ao que chama de o intratável, o incomensurável, e que toma a vez deste pólo de negatividade, de ora em diante ausente, substituindo-o numa relação à política, ao capital, ao sistema, que é sem negatividade – relação de alteridade não dialéctica, não crítica, mas incompossível. O intratável como o que se recusa a ser elemento, momento, da instituição política, sistema lógico ou dialéctico, bem como do totalitarismo económico-mediático que caracteriza a nossa época, segundo Lyotard. Isto é, o que se exclui, se retira, mas mantendo-se em relação, relação impossível, mas mesmo assim relação.
Se o pensamento deve resgatar o político às estratégias destes dois “totalitarismos” é no sentido, então, de tomar conta do múltiplo, do incomensurável, do intratável, deslocando-se na direcção de campos até aí inexplorados, de modo a permitir a salvaguarda e a fidelidade ao acontecimento, simultaneamente do lado do pequeno, do instante, do detalhe, do que desfaz os determinismos que têm por função impedi-lo. Por isso Lyotard viu cada vez mais na arte o seu depósito privilegiado.
Neste sentido, a empresa filosófica de Lyotard apresenta-se como uma reescrita da modernidade, ou seja, uma crítica radical ao pensamento da modernidade, entendido enquanto racionalidade totalizadora e discursiva. Trata-se de aprender a habitar o deserto depois da perca do político, do sentido, dos fundamentos, dos fins, sem cair demasiado na melancolia, o que implica uma atenção e abertura às diferenças relacionais que resistem a uma identificação final. Tais diferenças só podem ser circunscritas e apreendidas em termos de intensidades, forças, em termos de afectividade. Esta tonalidade afectiva, ou melhor, o afecto, é o que configura na obra final de Lyotard, a dívida da linguagem articulada e comunicável ao que, a cada vez, a excede e permanece inexprimido, inexprimível (sem relação), mas a que o modo de presença que é o afecto pode pelo menos prestar testemunho (e eventualmente fazê-lo partilhar). Através dele, o pensamento anti-totalitário de Lyotard denuncia toda a ilusão de resolução, de tratamento sem resto, de apresentação do inapresentável, de um sentido comum num consenso, e chama a si a tarefa de pensar novas luzes com e contra este tempo.
A presente ficha de leitura segue um itinerário linear que se estrutura, numa progressão cronológica, em torno dos três livros maiores de Jean-François Lyotard – Discours-Figure, Économie Libidinal e Le différend -, e dos seus últimos textos sobre arte, que o próprio entendia como preparações de um livro ainda por vir.
Procurar-se-á libertar da análise destes momentos privilegiados da obra de Lyotard, e das teses fundamentais que os atravessam, o fio de equilíbrio que percorre os vários tons que a caracterizam: a mesma intuição que se volta a dar, a cada vez, num outro plano, testemunhando diferentes versões da tensão acima assinalada e dos eixos que a orientam.
1. Discurso/Figura
“que “L’oeil écoute”, comme disait Claudel, signifie que le visible est lisible, audible, intelligible. (...) ce livre-ci proteste: que le donné n’est pas un texte, qu’il y a en lui une épaisseur, ou plutôt une différence, constitutive, qui n’est pas à lire, mais à voir; que cette différence et la mobilité immobile qui la révèle, est ce qui ne cesse de s’oublier dans le signifié” (DF, 9)
Discours, figure procura compreender a apresentação do visível contra o legível e no próprio elemento do legível. Guiado pela fenomenologia, as primeiras linhas do livro dão o tom, o de um parti pris do olho como abertura a um absolutamente outro. Esta defesa do olho é ao mesmo tempo um ataque pelos meios do discurso à suficiência do discurso, uma contestação da sua possibilidade de aderir ao movimento do visível. Invertendo a hierarquia metafísica entre discurso e figura, Lyotard mostra que o discurso não pode pretender dizer a verdade do sensível ou fazer ver o dizível. A relação entre sensível e inteligível é contestada por uma resistência de fundo por parte do olhar à sua tradução em signos. A fenomenologia é um pensamento que chama a atenção para a ilusão do espírito sobre o olho, para a irredutibilidade do sentido de exterioridade, ao qual o olho se expõe, à interioridade da linguagem e do sujeito no conceito. No entanto, segundo Lyotard, se a fenomenologia tem o mérito de tentar ir ao encontro do que precede a linguagem e lhe é refractário - o sensível -, não deixa contudo de ceder à tentação de tentar um duplo recobrimento do dizível no visível e vice-versa. De facto, o primado dado à percepção pela fenomenologia constitui ainda, segundo Lyotard, um esforço de reconciliação entre sensível e sentido, em que se trata de encontrar uma linguagem para significar o sensível, como o que está na origem do próprio significar: mesmo se é no sentido de lhe obedecer, o discurso comanda ainda a figura.
Assim, a primeira parte do livro concentra-se na percepção e na ordem linguística, sublinhando a diferença irredutível entre ambas, mostrando que há espaço entre elas e que este não é pacificável pelo pensamento.
O livro prossegue, então, num movimento para além da exibição desta cesura entre discursos e percepções e o figural deixa de ser o que se opõe simplesmente ao discursivo, para ser o que o abre a uma heterogeneidade e diferença radicais. A região de viragem é a reflexão na diferença no espaço sensível, que não pode ser racionalizada e subsumida dentro da regra da significação e da representação. A noção de figural é o que introduz o acontecimento no campo visual, bem para além da fenomenologia da percepção. Pois o verdadeiro quiasmo do ver está menos na relação vidente/visível, ver/ver-se do que na de uma figurabilidade que perturba o saber e engendra a lateralidade de uma diferença. Este figural não é imagem, nem mimésis representativa, na medida em que é susceptível de metamorfoses. Há um destino da figura, que a torna cada vez mais rítmica e abstracta. Figura-imagem, figura-forma, recuando até à figura-matriz. “A figura-matriz, nem visível, nem legível, é a própria diferença, potência figural que recolhe o incomunicável da ausência de origem como fonte de todas as formas”. Em Discours, figure, o sensível abandona então o domínio da recognição perceptiva, para se tornar o terreno próprio da arte. Este deslocamento provoca uma alteração da sua consistência: privado de toda a forma, o sensível torna-se um suporte frágil, efémero, suporte que não sustem nenhuma palavra e que ele próprio não fala, não se dirige a nada: “Ce qui est sauvage est l’art comme silence. La position de l’art est un démenti à la position du discours. La position de l’art indique une fonction de la figure, qui n’est pas signifié, et cette fonction autour et jusque dans le discours” (DF, 13). O que a arte expõe, é desde logo um hiatos entre a ordem do discurso e a da figura informal, isto é, do figural. Esta fractura anuncia-se não somente na margem do discurso, mas no seio do próprio discurso. Ela é percebida como opacidade, como violência, pois interrompe o reconhecimento do sentido e da forma. O sensível que aí se dá mais não é do que um ecrã ou um membrana permeável, uma pura superfície, indeterminável quanto à sua natureza, não animado por uma intencionalidade.
Discours, figure, permite, então, dar conta da desarticulação interna das duas ordens, a da língua fundada em separações reguladas e a da profundidade da visão suscitada pela disjunção inclusiva entre o visível e o invisível. Fá-lo a partir de uma leitura de Freud. O seu axioma é: o inconsciente não se estrutura como uma linguagem mas como um campo de forças. É, pois, a hipótese dos processos primários que explica, em última análise, que o sensível não seja de origem e não apresente mais do que um ecrã frágil. O jogo dos acontecimentos pulsionais perturba tanto as exigências da boa visão, como as da dicção e perturba a sua relação. Ao entrelaçamento demasiado carnal entre o sentir e o sentido, Lyotard substitui a deriva da Zwischenwelt, do entre-mundo, como dizia Klee, o livre flutuar dos parâmetros do visível e do dizível.
Reconhecer o espaço figural é desfazer-se da ambição do pensamento de meter a linguagem em todo o lado, sendo que, como o mostra Lyotard, a primazia da linguagem se joga no grande crédito acordado à ordem dos signos e do seu espaço; este distribui a diferença em oposições. O figural é a diferença que pode atravessar o visível ou o textual enquanto eles não são somente constituídos de oposições (o figural é a diferença diferente da oposição). O espaço figural, a sua irredutibilidade como ordem visual, irrompe, assim, no espaço dos próprios signos, no espaço do discurso – é a força disruptiva que trabalha para interromper as estruturas estabelecidas nos domínios não só da visão, mas também da escrita. O figural é para Lyotard um equivalente do desejo enquanto este desfaz os regimes de representação dominantes.
2. Filosofia libidinal
Nas obras que se seguem a Discours, Figure, sobretudo em Économie libidinal, a intimidade diagnosticada entre figural e pulsional conduz a uma desclassificação do problema do discurso com o intuito de fazer passar para primeiro plano as múltiplas e diferentes forças e desejos em obra em qualquer situação política ou social, desde a teoria escrita à política revolucionária, passando pela economia global. Depois da sua ruptura com o marxismo, Lyotard empreende uma teorização anti-teórica da libido, em que a energia libidinal surge como ficção para descrever as transformações internas à sociedade capitalista, contra toda a empresa da teoria, contra o ilusionismo do discurso da teoria e as suas miragens totalizadoras.
Colocar em causa o pensamento que decide, o enunciado que divide entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, é suspender a empresa totalitária da lógica binária do julgamento, o terror do discurso de verdade, e tornar-se simultaneamente apático em relação à teoria e acessível ao pathos das singularidades. O que se descobre assim é o mundo como superfície de intensidades diferentes, sem que se possa aí hierarquizar valores, superfície sem profundidade, o que Lyotard chama de grande película efémera que a libido investe sem condição. Semelhante a uma banda com uma única face infinita (de Moebius), esta película, coisa libidinal, é ao mesmo tempo uma espécie de labirinto, superfície coberta de cantos e recantos, de bifurcações indecidíveis por entre milhares de percursos, sobre a qual correm potências de intensidades. A banda configura um corpo não unitário, contrário ao corpo orgânico, e exibe a confusão entre interior e exterior, isto é, entre o desejo e a sua inscrição; pele, filme, tela, livro de cheques ou conta de banco, constituem um todo contínuo. A película é o lugar do desejo. Através dela Lyotard tenta curto-circuitar a tensão extrema que se produzia em Discours, Figure entre o facto de discurso e a superfície sensível, entre o entre-mundo do figural e os processos primários, fundindo nesta película, a energia pulsional e o ecrã sensível, a inscrição e o seu lugar. As instâncias de linguagem perdem a sua autonomia e passam a ser concebidas como efeitos secundários, compreendidos a partir da desaceleração da banda ou de uma redução das intensidades. De facto, a banda representa os processos primários e a intensidade libidinal e nela a energia circula de uma maneira aleatória, que não investe nada em particular; esta circulação está associada a um movimento acelerado da película. À sua desaceleração corresponde a progressiva transformação do locus do desejo em locus do teatro da representação, dando lugar à formação do pensamento racional, dominado pela lógica binária e pela lei da não-contradição, isto é, à teoria e à representação. Transformando a placa sensível em energia pulsional o que Lyotard procura é o figural nu (a figura-matriz), isto é, a própria diferença, enquanto condição da superfície de inscrição, ou seja, dos sistemas de representação, que a absorvem e recuperam. “Como é que a impossível justaposição das singularidades intensas dá lugar ao registo, à inscrição?”. (EL, 28)
Économie libidinal é uma reescrita da matriz de figurabilidade que Lyotard constrói em Discours, figure. A matriz do livro é de reversão, mas no interior da constituição da oposição entre escrita e figura. Lyotard, primeiro reprivilegia o termo até aqui inferior e secundário da díade - a figura. Este primeiro passo é conseguido pela inversão da hierarquia da dita oposição. O segundo passo consiste na reinscrição do novo termo privilegiado. A figura, ou melhor o figural, é o ponto de reversão que reemerge e redefine o espaço no qual tem lugar. Este espaço é o espaço da representação, o espaço dos sistemas de representação, enquanto origem da teoria.
Este movimento de desconstrução vai para além da posição inicial de inscrição da figura e do texto numa díade oposicional, mas continua a ser um para o qual há uma linha de separação. Em Économie libidinal, Lyotard vai além deste ponto ao questionar a própria representação, enquanto retórica da substituição figurada por esta dualidade.
Se o figural vai para além da oposição entre textualidade e figurabilidade e explode no interior do discursivo, precedendo de algum modo a banda, esta é, por outro lado, o reverso do figural. O movimento é para fora da oposição binária ou das díades que enformam o reverso desconstrutivo em Discours, Figure, o movimento é para fora na direcção do corporal, das intensidades e afectos. Neste sentido, trata-se de reafectar o discurso, ou seja libertar a energia do afecto dos signos que inscrevem a banda, e às quais ela não se reduz, mesmo se a confusão é possível. Os sistemas de representação canalizam as intensidades libidinais estabilizando-as em estruturas e dispositivos, registos de inscrição, que tornam difícil a distinção entre a pele libidinal, móvel, onde ainda não há representação, e a superfície de inscrição. Se ambos se dissimulam, o discurso, desde logo atravessado de afectos, é incapaz de dar a intensidade no seu acontecer, pelo facto de, por inscrever, distinguir o acontecimento da sua superfície de inscrição. Trata-se, então, de fazer dizer à linguagem aquilo a que a sua ocultação resiste, de dar a ler o ilegível, recusando o caminho da teoria que é o de assumir que a banda é desde logo um registo de inscrições, é desde logo legível e automaticamente substituível.
A banda é o que permite a Lyotard ler não só o capitalismo, do ponto de vista de uma economia libidinal, enquanto lugar de operações libidinais que não acordam nenhum privilégio ao discurso, e à regra da representação pelo qual se ordena, como lugar de inscrição da libido, mas também explorar, nos anos setenta, através de uma série de ensaios a potência política da arte, entendida enquanto fundo corporal, artesanal, não-industrial, insubmisso à cultura. Nas palavras do próprio “deixam-se de considerar as pinturas, as músicas, as obras, do ponto de vista da representação. São antes transformadores de energia: uma parte desta é dispensada a salvaguardar os constrangimentos escolhidos, por exemplo os do teatro Nô, tão imprevisíveis para nós, ou os que Cézanne se impõe no encontro com a pintura romântica e impressionista, ou as regras de composição e harmonia que inventa Schonberg; ou ainda tal disposição corporal actualizada numa performance.
Tão diversos quanto possam ser os dispositivos propostos, todas são obras de arte que suscitam uma afecção intensa nos seus destinatários, ou que encontram os seus destinatários pela intensa afecção que elas lhes transmitem.”
Em 1973, Lyotard publica um dos seus raros textos dedicados ao cinema, intitulado L’acinéma. Nele oferece uma crítica do cinema ordinário representacional na sua tentativa de reproduzir o real a vários níveis e em particular no que respeita ao movimento, excluindo simultaneamente a imobilidade e o movimento aberrante ou excessivo, excepto quando estes podem ser recuperados no interior da ordem representativa: “une économie libidinal du cinéma devrait littéralement construire les opérateurs qui sur le corps social et organique excluent les aberrances et canalisent les impulsions dans ce dispositif”. O Acinema que Lyotard favorece situa-se, então, nos dois pólos opostos da imobilidade (o quadro vivo) e da extrema mobilidade, que ele localiza na abstracção. Trata-se de uma reversão do dispositivo cinematográfico, em que o lhe interessa é a opacificação do ecrã, o desfazer da boa forma da imagem. Neste sentido, Économie Libidinal parece prolongar a análise deste ensaio, dando-lhe valor de modelo.
3. O diferendo
Mais ou menos dez depois de Économie Libinal, Le différend, antecipado por obras como A condição pós-moderna, Au juste, L’enthousiasme (escrito em 80-81, publicado em 86) e um número de ensaios não reunidos, e considerado por Lyotard como o seu livro de filosofia, pauta-se por um abandono da filosofia libidinal. Contudo, permanecem as preocupações com o acontecimento e com os limites da representação. O modo de análise desloca-se das forças libidinais para a linguagem.
Trata-se não só de constatar a impossibilidade de uma interpretação hegemónica dos acontecimentos, mas também de analisar o que está em causa do ponto de vista da justiça quando diferentes interpretações do mesmo acontecimento competem entre si.
O diferendo, de um modo sucinto, é um caso de conflito entre partes que não pode ser resolvido de modo equitativo por ausência de uma regra de julgamento aplicável a ambos. O diferendo opõe-se ao litígio. O segundo permite o encontro de uma regra ou critério pelo qual um conflito possa ser decidido. Lyotard distingue ainda o queixoso e a vítima. A segunda não pode provar que sofreu um dano, enquanto que o queixoso dispõe dos meios de provar o seu prejuízo e torna-se vítima se perder esses meios. No caso do diferendo, a vítima não tem modo de argumentar, pois o dano de que sofre não se significa no idioma em que ocorre a regulação do conflito. O discurso que determina a regra do julgamento pode ser tal que o dano pode não ser traduzível nos seus termos. A incapacidade de testemunhar o dano pode manifestar-se quer pelo silêncio, quer por uma palavra cujo sentido é neutralizado e que não consegue fazer valer o dano de que é portadora. Os exemplos de diferendo que Lyotard apresenta são diversos, o mais importante sendo contudo o relativo aos sobreviventes da Shoah.
Solicitando, assim, termos como diferendo, litígio, prejuízo, dano, que pertencem usualmente ao léxico jurídico, Lyotard cria uma filosofia marcada por várias acepções que representam variações da noção de diferendo. Tal prende-se com a descoberta dos termos do impartilhável. O incomensurável não designa mais a distância irredutível entre o sentir e o significar, mas a diferença (não relativizável) entre as argumentações, os idiomas, os géneros de discursos. A divisão não incide sobre o que precede a linguagem e a própria linguagem. A divisão está na linguagem. Os traços da divisão acusam-se nela própria: a linguagem está quebrada. A ressonância do termo diferendo aponta para a incapacidade do discurso articulado de atestar a existência de um dano. Deslocado para outro campo que não o jurídico, deslocado para todos os campos, o diferendo faz ouvir que entre os jogos de linguagem, ou géneros de discurso, não se pode dizer o direito, pois tal seria julgar segundo o jogo de linguagem precisamente jurídico. “Um dano resulta do facto de as regras do género de discurso segundo as quais se julga não serem aquelas do ou dos géneros de discurso julgados”. (D, 9). Um dano tem lugar quando a uma ou mais valências da frase (o referente, o significado, o destinatário, ou o destinador) é interdito um idioma, tornando impossível à frase articular-se. O dano manifesta-se, assim, num sentimento de antes da palavra bem formada. A frase da vítima deve ser encontrada numa outra ordem de atestação dos signos, ela deve encontrar o seu idioma, a sua linguagem oblíqua. É, portanto, necessário julgar, de um modo diagonal, para conseguir dizer o diferendo. Testemunhar do diferendo passa, em 1986, pela política e pela filosofia, entendidas não enquanto géneros de discurso que governariam os outros géneros de discurso, à maneira de metalinguagens, mas enquanto frases singulares que velam pela justiça das relações entre frases e atravessam obliquamente todos os universos de frases. “Tudo é político se política é a possibilidade do diferendo a pretexto do mínimo encadeamento. Mas a política não é tudo se entendemos por isso que ela é o género de discurso que contém todos os géneros. Ela não é um género” (D, 192). Trata-se justamente de frasear o que não se pode inscrever e repele as fronteiras da escrita. Se há diferendo entre partes determinadas e experiência aguda do diferendo sobre casos flagrantes, tal deve-se à existência do diferendo à escala generalizada da linguagem, ao dano feito ao possível. Da necessidade de encadear e da possibilidade de o fazer de diferentes maneiras decorre que o encadeamento que prevalece faz dano aos outros. As experiência sensíveis de diferendo atestam da universalidade do diferendo entre frases.
A teoria do diferendo, desenvolvida a partir de uma análise complexa da linguagem, define uma ontologia dos acontecimentos. Ela parte de um entendimento da linguagem como facto, que supõe que há seres falantes, que produzem formações de linguagem. Este estatuto de facto do discurso, da língua, presente desde Discours, Figure, remete no pensamento de Lyotard para a ideia de que o sistema da língua está desde logo lá e que o gesto de palavra que é suposto criar a significação, não pode nunca ser apreendido na sua função constituinte, e por conseguinte, que a filosofia não pode pretender dar conta da linguagem através de uma dedução transcendental ou de uma génese fenomenológica. O sistema da língua para significar não precisa de motivação, como o demonstra o argumento wittgensteiniano citado em Le différend: para poder jogar um jogo de linguagem não é necessário conhecer a regra. Esta concepção da linguagem desfaz sujeito e objecto da linguagem. O sujeito não é colocado perante diferentes realidades que seriam jogos de linguagem entre os quais escolheria consoante a finalidade pretendida. A sua relação à linguagem não é instrumental. Trata-se de um movimento de desantropologização da linguagem, em que a intencionalidade do sujeito está ausente. Não só o sujeito é destituído da liberdade de escolha entre linguagens presentes à partida, como estas não estão finalizadas de avanço e atribuídas definitivamente a tal ou tal jogo. Não harmonia pré-estabelecida entre as linguagens entre si. Os jogos de linguagem, que Lyotard denomina de géneros de discurso, são da ordem do acontecimento. O que se encadeia, o que acontece, chama-se frase e esta não está a priori afecta a nenhum género de discurso em particular. A sua regra descobre-se de maneira imanente na própria actualidade do encadeamento. Assim, é no elemento da frase que o incomensurável se vai poder dizer. O que a pulsão não pode permitir dizer, vai poder dizer-se na linguagem dividida.
4. O diferendo da arte
A estética lyotardiana e os seus textos sobre arte, os últimos, tal como os primeiros, podem ser justamente abordados na perspectiva de um diferendo da arte, mesmo se há diferenças no modo como este se reflecte nuns e noutros. Se todo o diferendo é “o estado instável e o instante da linguagem que deve poder ser colocado em frase e não o pode ser ainda”, o diferendo na arte, parece redobrar esta instabilidade ontológica em sentimento, silêncio, pois trata-se de frasear o que se dá como puro acontecimento.
A filosofia da arte de Lyotard nega, por um lado, a necessidade de uma fundação da significação e, por outro, a redução do sensível a uma simples modalidade da referência linguística. Lyotard tenta demonstrar que se pode partir da impossibilidade de proceder a uma dedução da língua ou da frase, sem por isso se ser obrigado a apagar a especificidade do sensível, incorporando-o na ordem do dizível. Lyotard desafia assim os quadros das filosofias que - como a crítica kantiana ou a fenomenologia – procuram engendrar a ordem da significação a partir de uma espécie de reflexão transcendental; nelas a intuição e o sensível adquirem uma posição privilegiada e irredutível à linguagem, a partir da qual uma estética se torna possível; desafia também a filosofia analítica e a semiótica estruturalista, em que a existência da linguagem é considerada como um facto sobre o qual não há necessidade de interrogação; nelas torna-se impossível atribuir ao sensível um estatuto particular e pensar uma teoria da arte a partir dele.
Em Discours, Figure o diferendo da arte releva da diferença introduzida pelo figural.
A partir de Le différend, enunciar o diferendo da arte e não a diferença implicará um deslocamento e uma refundação do corpus metodológico, em que a energética plástica dá lugar à anamnese da obra, o figural ao sublime, as constelações de linguagem do inconsciente ao frasear. O aqui e agora da obra produzirá o sentido, para criar uma língua singular, de perca e de despojamento do artista e do intérprete.
Os últimos textos sobre arte são marcados por uma atenção à obra na sua desconexão ao tempo, ao mundo e a qualquer objecto cultural historicizável ou teorizável. O gesto da arte é da ordem do afecto, mas um afecto transcendental, não sensível.
Neste sentido, o diferendo da arte é indissociável, nesta fase do pensamento de Lyotard, de uma certa leitura do sublime kantiano. O Sublime é o que apresenta o inominável, o inapresentável e reenvia, por conseguinte, a uma estética de desnaturação do sensível própria ao moderno. Nesta perspectiva, o sublime abre ao diferendo no sentimento. ”L’art est lá et pas lá, sur le mode d’une apparition qui se joue de l’apparence”. Esta retracção do sublime anula o ecrã visual de Discours, Figure, num luto de toda a imagem, de todo o figural. O sublime não promete nem futuro, nem aura e aponta para uma espécie de melancolia ontológica da arte: a arte não salva e não abre a nenhuma redenção histórica ou crítica. Ela é, no sentido em que acontece, sempre demasiado cedo, demasiado tarde.
1. O Acinema
O niilismo dos movimentos adequados. O cinematógrafo é a inscrição do movimento. Nele escrevem-se movimentos. Toda a espécie de movimentos; por exemplo, para o plano, os dos actores e objectos móveis, das luzes, das cores, dos enquadramentos, da focal; para a sequência: de tudo isto ainda, e mais dos raccords (da montagem); para o filme, da própria découpage. E sobre ou através de todos estes movimentos, o do som e das palavras, combinando-se com eles.
Há então uma multidão (pelo menos inumerável) de elementos em movimento, uma multidão de possíveis candidatos móveis à inscrição na película. A aprendizagem dos métiers cinematográficos visa saber eliminar, aquando da produção do filme, um número importante destes movimentos possíveis. A constituição da imagem da sequência e do filme parece dever ser paga ao preço destas exclusões.
Daí duas questões verdadeiramente naives em relação ao discurso dos actuais ciné-críticos: quais são esses movimentos e esses móveis? Porque é que é necessário seleccioná-los?
Se não seleccionarmos nenhum movimento aceitamos o fortuito, o grosseiro, a perturbação, o mal ajustado, ambíguo, mal enquadrado, vacilante, mal revelado... Por exemplo, vocês trabalham um plano com uma câmara de vídeo, digamos sobre uma soberba cabeleira à la Saint-John Perse; no visionamento constata-se que houve um distúrbio: de repente, perfis de ilhas incongruentes, gumes de falésias, pântanos saltam-vos aos olhos, atormentam-los, intercalam no vosso plano uma cena vinda doutro lugar, que não representa nada de localizável, que não se liga à lógica do vosso plano, que nem sequer vale como inserção, pois não será retomada, repetida, uma cena indecidível. Será então apagada.
Não reivindicamos um cinema bruto, como Dubuffet uma arte bruta. Não formamos uma associação para a salvaguarda das rushes e a reabilitação dos desperdícios. Ainda que... Observamos que se o distúrbio é eliminado, é devido à sua inconveniência, logo simultaneamente para proteger uma ordem de conjunto (do plano e/ou da sequência e/ou do filme), e para interditar a intensidade que ele veicula. E a ordem de conjunto tem apenas como razão a função do cinema: que haja ordem nos movimentos, que os movimentos se façam por ordem, que façam ordem. Escrever através de movimentos, cinematografar, concebe-se e pratica-se então como uma incessante organização dos movimentos. As regras da representação para a localização espacial, as da narração para a instanciação da linguagem, as da forma “música de filme” para o tempo sonoro. A dita impressão de realidade é uma real opressão de ordens.
Esta opressão consiste na aplicação do niilismo aos movimentos. Nenhum movimento, nenhum campo que ele revela, é dado ao olho-ouvido do espectador pelo que é: uma simples diferença estéril num campo visual-sonoro; ao contrário todo o movimento proposto reenvia a outra coisa, inscreve-se a mais ou a menos sobre a contabilidade que é o filme, vale porque retorna a outra coisa, porque ele é então retorno potencial, e rentável. O único verdadeiro movimento com o qual se escreve o cinema é o do valor. A lei do valor (em economia dita política) enuncia que o objecto, no nosso caso o movimento, vale desde que seja permutável, em quantidades de uma unidade definível, contra outros objectos dessas mesmas quantidades. É preciso então que o objecto faça movimento para que valha: que proceda de outros objectos (“produção” no sentido estreito), e que desapareça, mas sob condição de dar lugar a outros objectos ainda (consumo). Um tal processo não é estéril, é produtivo, ele é a produção em sentido largo.
A pirotecnia. Distingamo-lo bem do movimento estéril. Um fósforo friccionado consome-se. Se com ele acenderem o gás graças ao qual aquecerão a água do café que precisam de tomar antes de ir trabalhar, o consumo não é estéril, ele é um movimento que pertence ao circuito do capital: mercadoria-fósforo – mercadoria-força de trabalho – dinheiro-salário – mercadoria-fósforo. Mas quando a criança fricciona a cabeça vermelha para ver, por nada, ela gosta do movimento, gosta das cores que se transformam umas nas outras, as luzes que passam pelo auge do seu brilho, a morte do pequeno pedaço de madeira, o assobio. Ela gosta, então, das diferenças estéreis que não levam a nada, ou seja, que não são equalizáveis e compensáveis, das perdas, o que o físico nomearia degradação de energia.
A fruição, na medida em que fornece matéria de perversão e não somente de propagação, faz-se sentir por esta esterilidade. No final de Para além do princípio do prazer, Freud apresenta-a como exemplo da combinação da pulsão de vida (Eros) e das pulsões de morte. Mas ele pensa na fruição obtida pelo canal da genitalidade “normal”: como qualquer gozo, inclusive o que serve de pretexto ao êxtase histérico e ao cenário perverso, o normal inclui a componente letal, mas esconde-a num movimento de retorno, que é o da genitalidade. A sexualidade genital, se ela é normal, é porque dá lugar ao parto e a criança é o retorno do seu movimento. Mas o movimento de fruição, enquanto tal, desintegrado do movimento de propagação da espécie, seria, genital ou não, sexual ou não, aquele que ultrapassando o ponto de não-retorno verte as forças libidinais para fora do conjunto, e à custa do conjunto (à custa da deterioração e da desintegração do conjunto).
Fazendo arder o fósforo, a criança gosta deste desvio (a palavra é cara a Klossowski) dispendioso da energia. Produz pelo seu próprio movimento um simulacro do gozo na sua componente dita de morte. Se ele é então um artista, é seguramente porque produz um simulacro, mas é sobretudo porque esse simulacro não é um objecto de valor valendo por um outro objecto, com o qual ele se comporia, se compensaria, se fecharia num conjunto regulado por algumas leis de constituição (numa estrutura de grupo, por exemplo). Importa ao contrário que toda a força erótica investida no simulacro aí seja promovida, desdobrada e queimada em vão. É neste sentido que Adorno dizia que a única grande arte é a dos atiradores de fogo de artifício: a pirotecnia simularia na perfeição o consumo estéril das energias do gozo. Joyce concede este privilégio na sua sequência da praia (Ulisses). Do mesmo modo, um simulacro tomado no sentido klossowskiano não é para ser concebido, em primeiro lugar, sob a categoria da representação, como um representante mimando a fruição, por exemplo, mas dentro de uma problemática cinética, como o produto paradoxal da desordem das pulsões, como o composto das decomposições.
A partir daqui começa a discussão sobre o cinema e a arte representativa-narrativa em geral. Pois abrem-se duas direcções para conceber (e produzir) um objecto, cinematográfico em particular, conforme à exigência pirotécnica. Estas duas correntes, aparentemente absolutamente contrárias, parecem ser as mesmas que atraem a si o que há de intenso na pintura de hoje. É possível que operem também nas formas realmente activas do cinema experimental e underground.
Estes dois pólos são a imobilidade e o excesso de movimento. Deixando-se atrair na direcção destes antípodas, o cinema cessa insensivelmente de ser uma força da ordem; ele produz verdadeiros, isto é, vãos, simulacros, intensidades de fruição, em vez de objectos consumíveis-produtivos.
O movimento de retorno. Recuemos primeiro um pouco atrás. O que têm estes movimentos de retorno ou estes movimentos que retornam a ver com a forma representativa e narrativa no cinema de grande distribuição? Sublinhemos o quanto é miserável responder a esta questão em termos de simples função superstrutural de uma indústria, o cinema, cujos produtos, os filmes, teriam de agir sobre a consciência do público para o adormecer através de infiltrações ideológicas. Se a mise en scène é uma ordenação de movimentos não é por que seja propaganda (em benefício de uma burguesia, dirão uns, e da burocracia, acrescentarão os outros), mas porque é propagação. Do mesmo modo que a libido deve renunciar aos seus derramamentos perversos para propagar a espécie através da genitalidade normal, e deixa que “o corpo sexuado” se constitua com este único fim, também o filme que o artista produz na indústria capitalista (e toda indústria presentemente conhecida o é) e que resulta, dissemo-lo, da eliminação dos movimentos aberrantes, das despesas vãs, das diferenças de pura destruição, é composto como um corpo unificado e propagador, um conjunto reunido e fecundo, que vai transmitir o que veicula em vez de o perder. A diegese vem aferrolhar a síntese dos movimentos na ordem dos tempos, a representação perspectivista na ordem dos espaços.
Ora em que podem consistir tais ferrolhos, se não for para dispor a matéria cinematográfica segundo a figura do retorno? Não falamos aqui somente da exigência de rentabilidade imposta pelo produtor ao artista, mas da exigência de forma que o artista faz pesar sobre o material. Toda a forma dita boa implica o retorno do mesmo, o rebatimento do diverso sobre o único idêntico. Tal pode ser em pintura uma rima plástica ou um equilíbrio de cores, em música a resolução de uma dissonância no acorde dominante, em arquitectura uma proporção. A repetição, princípio não somente de métrica, mas também de rítmica, se ela for tomada no sentido estrito da repetição do mesmo (da mesma cor, linha, do mesmo ângulo, do mesmo acorde), é o resultado de Éros-e-Apolo disciplinando os movimentos e circunscrevendo-os aos limites da tolerância característica do sistema ou do conjunto considerado.
Criticou-se muito a este respeito quando se acreditou ter aí descoberto depois de Freud o próprio movimento pulsional. Pois Freud, em Jenseits... sempre, faz questão de dissociar a repetição do mesmo que assinala o regime das pulsões de vida, e a repetição do outro que não pode ser senão o outro da repetição nomeada primeiro, própria às pulsões de morte, uma vez que estando estas precisamente fora do regime assinalado pelo corpo ou conjunto em questão, não é possível de discernir o que regressa quando regressa com elas a intensidade do prazer e do perigo extremo de que são portadoras. A tal ponto que é necessário perguntar se é de facto da repetição que se trata, ou se ao contrário não é a cada vez outra coisa que chega, e se o eterno retorno destas estéreis explosões de despesa libidinal não deve ser concebido num espaço-tempo totalmente outro que não seja o da repetição do mesmo, enquanto sua co-presença incompossível. Aqui encontra-se seguramente a insuficiência do pensamento, o qual passa necessariamente pelo mesmo que é o conceito.
Os movimentos do cinema são em geral os do retorno, isto é, da repetição do mesmo e da sua propagação. O argumento, que é uma intriga com desenlace, representa na ordem dos afectos relativos aos “significados” (denotados bem como conotados, como diria Metz) a mesma resolução de uma dissonância que a forma sonata em música. A este respeito todo o final é o bom, daquilo que é fim, seja ele um assassinato, pois este também é a resolução de uma dissonância. No registo dos afectos ligados aos “significantes” cinematográficos e fílmicos, encontra-se aplicado a todas as unidades (focal, enquadramento, raccord, iluminação, tiragem, etc.) a mesma regra de reabsorção do diverso na unidade, a lei do retorno do mesmo através de um semblante de alteridade, que não é senão um desvio.
A instância de identificação. Esta regra, onde quer que se aplique, opera principalmente, dissemo-lo, sob a forma de exclusões e apagamentos. Exclusões de certos movimentos dos quais os profissionais não estão conscientes; apagamentos que, em contrapartida, eles não têm como ignorar tendo em conta que uma parte importante da actividade cinematográfica consiste neles. Ora estes apagamentos e estas exclusões constituem as próprias operações da mise en scène. Eliminando, antes da tomada de vista e/ou depois dela, os reflexos por exemplo, o operador e o realizador condenam a imagem na película à tarefa sagrada de se tornar reconhecível pelo olho, e exigem por conseguinte deste último que ele apreenda esse objecto ou esse conjunto de objectos como duplo de uma situação desde logo suposta real. A imagem é representativa porque ela é reconhecível, porque se dirige à memória do olho, a âncoras de identificação fixas, conhecidas no sentido de “bem conhecidas”, estabelecidas. Estas âncoras são a identidade que mede o regresso e o retorno dos movimentos. Elas formam a instância (ou o grupo de instâncias) em função da qual se suspendem todos os movimentos, e graças à qual estes revestem necessariamente a forma de ciclos. Assim todos os distanciamentos, perturbações, separações, percas, distúrbios, podem bem produzir-se, eles não são mais verdadeiros desvios, derivas gratuitas, eles não são mais do que desvios beneficiários de contas já feitas. É neste ponto preciso do retorno para fins de identificação que a forma cinematográfica, compreendida como a síntese dos bons movimentos, se articula com a organização cíclica do capital.
Um exemplo entre mil: em “Joe, c’est aussi l’amérique” (filme inteiramente construído sobre a impressão de realidade), o movimento é alterado em duas ocasiões, a primeira vez quando o pai espanca até à morte o jovem rapaz hippy com o qual vive a sua filha, a segunda vez, quando, “limpando” a tiro uma comuna hippy, ele mata a sua filha sem o saber. Esta última sequência imobiliza-se sobre um grande plano do rosto e do busto da jovem mulher atingida em pleno movimento. No primeiro assassínio vemos os punhos abaterem-se como chuva sobre um rosto sem defesa que cedo se afunda no coma. Estes dois efeitos, um de imobilização, o outro de excesso de mobilidade, são então obtidos em derrogação das regras da representação, que exigem que o movimento real, impresso a 24 imagens/segundo sobre a película, seja restituído na projecção à mesma velocidade. Seria de esperar deste facto uma forte carga em afecto, a tal ponto esta perversão, para mais ou para menos, do ritmo realista responde à do ritmo corporal na grande emoção. E ela produz-se de facto. Mas em benefício, todavia, da totalidade fílmica, e por conseguinte, no fim de contas, da ordem: pois estas duas arritmias produzem-se não de forma aberrante, mas nos pontos culminantes da tragédia do impossível incesto pai/filha que subentende o argumento. De modo que elas bem podem perturbar a ordem representativa ao ponto de suprimir, por alguns instantes, o apagamento da película que é a condição daquela; não deixam de servir, antes pelo contrário, a ordem narrativa, que marcam com uma bela curva melódica, o primeiro assassinato em acelerado encontrando a sua resolução no segundo imobilizado.
A memória à qual se dirigem os filmes não é portanto nada em si mesma, tal como o capital não é mais do que instância capitalizadora; ela é uma instância, um conjunto de instâncias vazias, que de modo algum operam através do respectivo conteúdo; a boa luz, a boa montagem, a boa mistura não são boas por serem conformes à realidade perceptiva ou social, mas antes porque são os operadores cenográficos a priori que determinam os objectos a registar no ecrã e na “realidade”.
A colocação fora de cena. A mise en scène não é uma actividade artística, ela é um processo geral atingindo todos os campos de actividade, processo profundamente inconsciente de divisões, de exclusões e de apagamentos. Noutros termos, o trabalho da mise en scène efectua-se sobre dois planos simultaneamente e é isto a coisa mais enigmática. Por um lado, este trabalho traduz-se elementarmente em separar de um lado a realidade e do outro uma área de jogo (um “real” ou um “desreal”, o que está na objectiva): meter em cena é instituir este limite, este quadro, circunscrever a região de desresponsabilidade no seio de um conjunto que ideo facto será apresentado como responsável (será chamado de natureza por exemplo, ou sociedade, ou última instância), e portanto instituir entre uma região e a outra uma relação de representação ou de dobragem, forçosamente acompanhada de uma desvalorização relativa das realidades de cena que não são mais, então, do que representantes das realidades de realidade. Mas por outro lado, e de forma indissociável, para que a função de representação possa ser assegurada, o trabalho que mete em cena não deve ser somente, como acabámos de dizer, um trabalho que mete fora de cena, mas também um trabalho que unifica todos os movimentos, de um lado e de outro do limite do quadro, que impõe aqui e ali, na “realidade” como no real, as mesmas normas, que instancia de modo idêntico todas as impulsões, e que por conseguinte não exclui e não apaga menos fora de cena do que em cena. As referências que ela impõe ao objecto fílmico, impõe-nas também necessariamente a qualquer objecto fora do filme. Ela separa, então, primeiro no eixo da representação, graças ao limite teatral, uma realidade e o seu duplo, disjunção que constitui um evidente recalcamento; mas por outro lado ela elimina, para além desta disjunção representativa, numa ordem “pré-teatral”, económica, qualquer movimento pulsional, quer seja de desreal ou de realidade, que não se preste a este redobramento, que escape à identificação, ao reconhecimento e à fixação mnésicas. Independentemente de qualquer “conteúdo”, por muito violento que ele possa parecer, a mise-en-scène considerada sob o ângulo desta função primordial de exclusão, extensiva quer ao interior, quer ao exterior da área cinematográfica, age portanto sempre como um factor de normalização libidinal. Esta normalização, como vemos, consiste em excluir tudo o que, em cena, não pode ser rebatido sobre o corpo do filme, e fora de cena sobre o corpo social.
O filme, essa estranha formação reputada normal, não o é mais do que a sociedade ou o organismo. Os seus objectos, que não o são, resultam todos da imposição e da esperança de uma totalidade efectuada, eles são supostos realizarem a tarefa razoável por excelência, que é a subordinação de todos os movimentos pulsionais parciais, divergentes e estéreis à unidade do corpo orgânico. O filme é o corpo orgânico dos movimentos cinematográficos. Ele é a ekklesia das imagens, como a política é a dos órgãos sociais parciais. É por isso que a mise en scène, técnica de exclusões e de apagamentos, que é actividade política por excelência, e esta, que é por excelência mise en scène, são a religião da irreligião moderna, o eclesiástico da laicidade. O problema central não sendo, nem aqui, nem ali, a disposição representativa e a questão, que lhe está ligada, de saber o que representar e como, de definir uma boa ou verdadeira representação; mas a exclusão de tudo o que é tido por irrepresentável, por que não recorrente.
O filme age assim como o espelho ortopédico, do qual Lacan analisou , em 1949, a função constitutiva do sujeito imaginário ou objecto a; que ele aja à escala do corpo social não modifica em nada a sua função. Mas o verdadeiro problema, que Lacan evita devido ao seu hegelianismo, é o de saber porque é que é necessário às pulsões dispersas sobre o corpo polimorfo, um objecto onde reunir-se. Numa filosofia da consciência, esta última palavra diz bastante sobre esta exigência de unificação ser dada como hipótese; ela é a própria tarefa de uma tal filosofia; num “pensamento” do inconsciente em que uma das formas mais aparentadas com a pirotecnia seria o económico aqui e ali esboçado por Freud, a questão da produção da unidade, mesmo imaginária, não pode mais deixar de se colocar em toda a sua opacidade. Não se terá de simular mais a compreensão da constituição da unidade do sujeito a partir da sua imagem no espelho, ter-se-á de questionar como e porquê a superfície especular em geral, e logo o ecrã cinematográfico em particular, podem devir um lugar privilegiado de investimento libidinal, porquê e como as impulsões se depositam na pequena pele, a película, e a opõem, digamos, a si-mesmas como o lugar da sua inscrição, e, mais ainda, como o suporte que a operação cinematográfica, sob todos os seus aspectos, virá apagar. Uma económica libidinal do cinema deveria literalmente construir os operadores que, sobre o corpo social e orgânico, excluem as aberrações e canalizam as impulsões neste dispositivo. Não é certo que o narcisismo e o masoquismo sejam os operadores convenientes; eles comportam um teor em subjectividade (em teoria do eu) sem dúvida demasiado elevado.
O quadro vivo. O acinema, já o dissemos, situar-se-ia nos dois pólos do cinema tomado como grafia do movimento: logo a imobilização e a mobilização extremas. Não é senão para o pensamento que estes dois modos são incompatíveis . Para o económico eles estão ao contrário necessariamente associados; a estupefacção, o terror, a cólera, o ódio, a fruição, todas as intensidades são sempre deslocamentos no mesmo lugar. Seria necessário analisar o termo emoção numa moção que iria na direcção do esgotamento de si própria, uma moção imobilizadora, uma mobilização imobilizada. As artes da representação oferecem dois exemplos simétricos destas intensidades, um em que é a imobilidade que aparece: o “quadro vivo”; o outro é a agitação: a abstracção lírica.
Existe actualmente na Suécia uma instituição dita do posering, termo pedido de empréstimo à pose solicitada pelo fotógrafo de retratos: jovens mulheres alugam a casas especializadas os seus serviços, os quais consistem em tomarem, vestidas ou despidas, as poses que os clientes desejam, enquanto que a estes é interdito, pelo estatuto destas casas que não são de prostituição, tocarem de que maneira seja os modelos. Instituição que dir-se-ia talhada à medida da fantasmática de Klossowski, o qual sabemos a importância que acorda ao quadro vivo como simulacro quase perfeito do fantasma na sua intensidade paradoxal. Mas é preciso, neste caso, ver como se distribui o paradoxo: a imobilização parece só atingir o objecto erótico, enquanto que o sujeito se veria confrontado com a mais viva emoção.
Sem dúvida que não é assim tão simples como parece e que seria necessário antes compreender o dispositivo como operando a segmentação, sobre os dois corpos, o do modelo e o do cliente, das regiões de intensificação erótica extrema através de um dos dois, o do cliente, desde logo reputado intacto na sua integridade. Uma tal formulação, em que se vê a proximidade com a problemática sadiana da fruição, obriga, no que respeita ao que nos preocupa aqui, a anotar isto: o quadro vivo em geral, se detém um potencial libidinal garantido, é porque põe em comunicação a ordem teatral e a ordem económica; é porque usa “pessoas totais” como regiões erógenas destacadas às quais ligar as pulsões do espectador (suspeitar, aqui, de tudo rebater rapidamente sobre o voyeurismo). Ele faz assim sentir o preço, fora de preço, como o explica admiravelmente Klossowski, que deve pagar o corpo orgânico, a pretensa unidade do pretenso sujeito, para que expluda a fruição na sua irreversível esterilidade. É o mesmo preço que o cinema deveria pagar se fosse ao encontro do primeiro dos seus extremos, a imobilização: pois esta (que não é a imobilidade) significaria que ele precisa de desfazer sem cessar a síntese acordada que qualquer movimento cinematográfico difunde ele mesmo para que em lugar das boas formas razoáveis e unificadoras que ele propõe à identificação, a imagem forneça pela sua fascinante paralisia matéria para a mais intensa agitação.
Seria preciso abrir aqui o dossier de um caso de uma importância singular: se lermos Sade ou Klossowski, o paradoxo da imobilização, bem se vê, distribui-se claramente sobre o eixo representativo. O objecto, a vítima, a prostituta adopta a pose, oferecendo-se assim como região destacada, mas é necessário ao mesmo tempo que ela se furte ou se humilhe como pessoa total. A alusão a esta última é um factor indispensável de intensificação, pois indica o preço incalculável do desvio das pulsões ao qual procede a fruição perversa. É, então, essencial a esta fantasmática ser representativa, ou seja, oferecer ao espectador instâncias de identificação, formas reconhecíveis, numa palavra matéria de memória: pois é à custa, repitamo-lo, de a ultrapassar e de desfigurar a ordem da propagação que se fará sentir a emoção intensa: daqui decorre que o suporte do simulacro, quer seja a sintaxe da descrição no escritor, a película do fotógrafo Pierre Zucca (que “ilustra” La monnaie vivante), o papel do desenhador Pierre Klossowski, - daqui decorre que este suporte não deve sofrer nenhuma perversão reconhecível de modo a que esta só atinja o que ele suporta, a representação da vítima: ela mantém-no, então, na insensibilidade ou inconsciência. Daqui o activo militantismo de Klossowski em favor de uma plástica representativa e os seus anátemas contra a pintura abstracta.
A abstracção. Ora o que é que acontece se for, ao contrário, sobre o próprio suporte que fazemos incidir mãos perversas? Eis que é a película, os movimentos, a iluminação, os ajustamentos precisos da imagem, que se vão recusar a produzir a imagem reconhecível de uma vítima ou de um modelo imóvel, e investir sobre eles, sem o deixar mais ao corpo fantasmal, o preço da agitação e da despesa pulsionais. A película (para a pintura, a tela) faz-se corpo fantasmal. Toda a abstracção lírica em pintura se cumpre num tal deslocamento. Ele implica a polarização não mais na direcção da imobilidade do modelo, mas na direcção da mobilidade do suporte. Esta mobilidade é o contrário total do movimento cinematográfico: ela releva de qualquer procedimento desfazendo as boas formas que este último sugere, independentemente do nível, elementar ou complexo, a que esse procedimento trabalhe. Ela barra as sínteses de identificação e desmancha as instâncias mnésicas. Pode ir assim muito longe no sentido de uma ataraxia dos constituintes icónicos, que é preciso compreender ainda como mobilização do suporte. Mas esta maneira de frustrar o movimento pelo suporte não deve ser confundida com aquela que passa pelo ataque paralisante da vítima que serve de motivo. Aqui não só não há mais necessidade de modelo, como a relação ao corpo do cliente-espectador está completamente deslocada.
Como se instancia a fruição perante uma grande tela de Pollock ou de Rothko ou perante um estudo de Richter, ou de Baruchello, ou de Eggeling? Se não há mais referência à perca do corpo unificado, se ele não aparece mais, graças à imobilização do modelo e ao seu desvio para fins de descargas parciais, por muito inapreciável que seja a disposição que o cliente-espectador possa ter, o representado deixa de ser o objecto libidinal, e é o próprio ecrã que toma o seu lugar nos seus aspectos mais formais. A pequena pele já não se abole mais em benefício de tal carne, ela oferece-se como se fosse essa mesma carne em pose. Mas a que corpo unificado está ela ligada para que o espectador a frua e ela lhe pareça sem preço? Perante os íntimos frissons que embainham as regiões de contacto que ligam as praias cromáticas das telas de Rothko, ou perante os deslocamentos quase imperceptíveis dos pequenos objectos ou órgãos de Pol Bury, é à custa de renunciar à sua totalidade de corpo e à síntese dos movimentos que o faz existir, que o próprio corpo do espectador os pode fruir: estes objectos exigem a paralisia já não do objecto-modelo mas do “sujeito”- cliente, a composição do seu organismo, a restrição das vias de passagem e de descarga libidinais a muito pequenas regiões parciais (olho-córtex), a neutralização da quase totalidade do corpo numa tensão bloqueando toda a evasão das pulsões na direcção de outras vias que não sejam aquelas necessárias à detecção de diferenças muito finas. Passa-se o mesmo, segundo outras modalidades, com os efeitos dos excessos de movimento de um Pollock em pintura ou de um Thompson (trabalho sobre a objectiva) no cinema. O cinema abstracto como a pintura abstracta ao opacificarem o suporte subvertem o dispositivo, e fazem do cliente vítima. Também isto se passa, mesmo se diferentemente, nos deslocamentos quase insensíveis do teatro Nô.
A questão, que é preciso dizer crucial para o nosso tempo, porque ela é a da colocação em cena e logo a da colocação em sociedade (fora de cena), é a seguinte: é necessário que a vítima esteja em cena para que a fruição seja intensa? Se a vítima é o cliente, se em cena há somente a película, o ecrã, a tela, o suporte, perdemos para este dispositivo a intensidade da descarga estéril? E se é verdade, é então preciso renunciar a acabar com a ilusão não só cinematográfica, mas social e política? Esta ilusão, não é uma ilusão? É de acreditar que é uma ilusão? É preciso que o retorno das intensidades extremas seja necessariamente instanciado sobre pelo menos esta permanência vazia, sobre este fantasma de corpo orgânico ou de sujeito, que é o nome próprio (ao mesmo tempo que ele não saberia alcançá-lo)? Esta instanciação, este amor, em que é que ele difere desta ancoragem em nada que faz o capital?