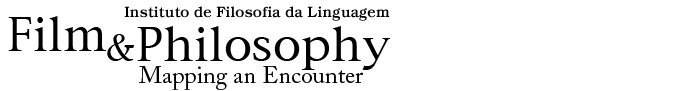(Joana Pimenta)
Filósofo americano nascido em 1926 em Atlanta, Georgia. Cavell começou por estudar música em Berkeley e depois na Julliard, mas desiste da música uns anos depois da se licenciar e inicia os estudos em Filosofia na UCLA. Obtém o Doutoramento em Filosofia pela Harvard University, e regressa a Berkeley onde ensina durante seis anos. Estabelece-se definitivamente em Harvard em 1963, onde é Walter M. Cabot Professor of Aesthetics and the General Theory of Value até 1997. A heterogeneidade de assuntos sobre os quais publicou, desde a pintura, música, ou literatura, a um substancial corpo de trabalho na área dos estudos sobre o cinema, garantiu-lhe um lugar sem precedentes na filosofia anglo-americana do séc. XX.
Partindo dos seus principais exemplos, a complexidade da sua obra pode ser tematizada em três linhas gerais, atravessadas pelo trabalho sobre o cepticismo e o perfeccionismo moral, e metodologicamente ancoradas no seu compromisso com a filosofia da linguagem de Wittgenstein e Austin: Must We Mean What We Say? e The Claim of Reason trabalham as noções de critério e de reconhecimento em articulação com o nosso uso da linguagem, no primeiro caso numa abordagem directa do cepticismo, no segundo de forma a articular a filosofia e as artes modernas; The Senses of Walden, This New Yet Unapproachable America, Conditions Handsome and Unhandsome e Cities of Words trabalham o perfeccionismo moral de Emerson e Thoreau; The World Viewed, Pursuits of Happiness e Contesting Tears, dedicadas ao cinema, arte na qual Cavell encontra o ordinário que a sua filosofia ambicionava e que lhe permite repensar o cepticismo à luz da nossa condição de espectadores de “sucessões automáticas de projecções do mundo” que, tanto na comédia como no melodrama, fundam mitos essenciais à nossa relação com o mundo e vivências comuns.
Muito influenciada pelo seu trabalho sobre Heidegger, Wittgenstein, Austin, Emerson e Thoreau, mas também pelos escritos de Bazin, a sua obra sobre o Cinema exprime verdadeiramente aquilo com que se pode parecer uma filosofia do cinema. Pretende porém levar o seu trabalho além desta constatação e saber o que podem ter a dizer um sobre o outro o cinema e a filosofia. “Na minha forma de ver, é como se a criação do cinema estivesse destinada à filosofia [as if meant for philosophy], destinada a reorientar tudo o que a filosofia tinha dito sobre a realidade e a sua representação, sobre a arte e a imitação, sobre a grandeza e as convenções, sobre o julgamento e o prazer, sobre o cepticismo e a transcendência, sobre a linguagem e a expressão.” (Cavell, 1996).
Cavell articula no seu trabalho não só as tradições filosóficas continental e anglo-saxónica, como a sua interrogação sobre o cinema surge no sentido de procurar as formas pelas quais pode existir uma filosofia americana. É nesse sentido que a análise dos géneros hollywoodianos toma um lugar central, sobrepondo-se à análise do cinema de autor que era mais comum na época. “Hollywood é um lugar mítico, cuja função é, em parte, fazer com que as pessoas imaginem que o conhecem sem levarem os seus trabalhos a sério, tal como a América”.
Recusando a análise formal e estética (entendida nesta acepção como uma teoria normativa do cinema), Cavell propõe reflectir filosoficamente sobre a experiência do cinema, numa análise em que os filmes são rememorados e na qual a relevância é colocada na sua importância para nós.
Cavell começa a escrever sobre o cinema quando sente que algo quebrou a relação natural com os filmes, a convicção imediata que este impunha porque parecia “mais natural que o mundo em si”. É nesta altura que pergunta “O que é o Cinema?”, o que implica saber qual a importância do cinema para nós. Assim, o seu trabalho estrutura-se como uma memória metafísica em que as memórias dos filmes que viu andam lado a lado com as suas próprias memórias. Concentrar o pensamento de Cavell nas suas teses essenciais implica delimitar três temas, os mais importantes do seu trabalho sobre o cinema: Em primeiro lugar, a definição da base material do cinema e a posterior tentativa de libertação do medium da sua base física, declarando que “só a arte pode definir os seus media”. Em segundo, a passagem do cinema tradicional para o cinema moderno como aquilo que quebrou a nossa relação natural com o cinema, que Cavell articula da rememoração nostálgica dos mitos do cinema clássico à redefinição de conceitos como o de automatismo, que permitem dar conta do trabalho de questionamento da tradição que é feito pelo cinema moderno quando deixamos de reconhecer os filmes tradicionais como sustentando um mundo coerente no qual podemos acreditar. Por último, e porque a ontologia do cinema de Cavell implica um trabalho permanente sobre as nossas condições como humanos, é para as questões da projecção e do cepticismo que Cavell desloca as questões que colocou a respeito do realismo e das possibilidades do cinema. The World Viewed implica sobretudo um trabalho sobre a localização que a fotografia faz dos seus sujeitos pela projecção, os “factos fenomenológicos da visão”, e impõe assim a visão como modo de relacionamento com um mundo ao qual já não sentimos pertencer, mas ao mesmo tempo em que exprime o cepticismo, contém também as condições da possibilidade da sua superação; a comédia e o melodrama, géneros que Cavell trabalha em Pursuits of Happiness e Contesting Tears, respectivamente, dão conta da nossa condição céptica sobretudo através do seu trabalho sobre o discurso, e, no caso da comédia, manifestam uma vontade de se voltar a casar com o mundo, que estabelece as bases para a viragem de uma ontologia para uma ética, que Cavell desenvolve num terceiro momento, em Cities of Words.
1. Base material do cinema como “sucessão de projecções automáticas do mundo”
A definição da base material do cinema como “sucessão de projecções automáticas do mundo” permite distinguir desde já os três conceitos essenciais à ontologia do cinema que Cavell elabora, e aos quais dedica a primeira parte de The World Viewed (os capítulos 1 a 5, os mais lidos e estudados de toda a obra): a teoria realista do cinema, que funda sobretudo na releitura que faz de Bazin, colocando o primado ontológico do cinema na sua apresentação do real; a reprodução automática do mundo, a ausência da mão humana na sua representação que, na passagem para o conceito de automatismo, é articulada como aquilo que garante a sua autonomia; a realidade projectada e a barreira temporal que o ecrã coloca entre nós e o real, impondo a visão como condição de ligação ao mundo (que será articulada posteriormente na sua relação com o cepticismo). Talvez a melhor forma de explorar estas questões seja decompondo a definição nestas três categorias, em conjunto com uma quarta, a sucessão, que será articulada sobretudo com a questão das possibilidades do cinema. Altera-se a ordem em que surgem na afirmação de Cavell de acordo com a importância que sustentam na formulação da sua teoria.
Mundo. Tudo o que foi referido, da reprodução automática à projecção do real, tem uma obvia relação com o realismo, e Cavell estabelece precisamente a ancoragem no real como a prioridade ontológica do cinema. O cinema responde ao mito do cinema total de Bazin, ao desejo de ter o mundo recriado na sua própria imagem. “ ‘Mundo’ diz respeito à condição ontológica da fotografia e dos seus sujeitos” (Cavell, 1979: 73). O cinema, com a sua base fotográfica, apresenta a realidade em si e, no mesmo movimento, prova a existência dessa realidade, uma vez que é precisamente por poderem ser deslocalizados do seu ambiente natural e relocalizados na realidade projectada que os sujeitos (aqui compreendidos pessoas e objectos) dão a reconhecer a sua existência. E o cinema não reproduz nem representa a sua aparência mas deixa, pelo processo de fotogenesis (ver “What Becomes of Things on Film?”, apresentado em III. Textos), que os sujeitos se revelem.
Projecção. Apesar de tomar como princípio que é próprio do cinema comunicar apenas aquilo que é real, inscrevendo-se assim na teoria realista de Panofsky e sobretudo de Bazin, Cavell rejeita audaciosa afirmação de Panofsky que o medium do cinema é a realidade em si, e rejeita também a visão de Bazin de que o cinema seja, na sua essência, a dramaturgia da natureza. Cavell contorna estas questões que preocuparam os fundadores da teoria realista porque define que o papel da realidade no cinema é o de ser “projectada, apresentada num ecrã, exibida e vista”, deslocando assim o questionamento do real para a projecção. Concentra-se assim no que acontece à realidade quando é projectada: esta é literalmente do nosso mundo, mas não existe (agora) para nós. O mundo projectado é um “mundo visto”, é a realidade feita passado, no qual as estrelas de cinema são do nosso mundo mas a barreira que nos separa delas é o tempo.
Automático. O mundo que o cinema apresenta está automaticamente livre da nossa subjectividade e da necessidade de representar para nós porque a nossa ausência é mecanicamente assegurada. É porque reproduz automaticamente imagens da realidade, porque revela automaticamente o mundo sem que tenhamos de fazer nada, que o cinema ultrapassa a subjectividade que se interpôs entre “a nossa alma e o real”, e é assim que permite sustentar a presenteidade do mundo aceitando a nossa ausência (é por este caminho que as noções de automático e automatismo se relacionam, como será desenvolvido no trabalho referente ao automatismo). Mas enquanto o cinema assegura assim a presença do mundo para nós, o espectador é, no mesmo movimento, posto à distância desse mundo passado. É esta simultaneidade de presença e ausência que o cinema satisfaz, e que responde ao desejo de ter o mundo magicamente recriado e projectado no ecrã, de forma a relacionarmo-nos com ele através da visão e não termos que reconhecê-lo: o efeito perverso desta situação é o facto de nos livrarmos do fardo de reconhecer a alegria ou o sofrimento dos personagens (e, portanto, dos outros homens) porque a nossa ausência é mecanicamente assegurada.
Antes de passar à questão da sucessão, será preciso desenvolver em que consiste a intransigência da proposta cavelliana: o modo natural do cinema é a revelação automática de imagens do mundo, sem que haja qualquer lugar para intervenção da mão humana. A objecção mais vulgarmente levantada é a de que existe uma óbvia e incontornável manipulação, que se manifesta desde logo na decisão da altura em que se liga a câmara, mas também nos movimentos que esta faz, nas aproximações aos seus sujeitos e nos recuos, etc. É preciso ter em atenção que esta é uma ideia que Cavell não contraria – o realismo é uma condição essencial do cinema, mas estas possibilidades, se forem realizadas de forma significante e não perverterem a natureza do cinema, isto é, se reconhecerem aquilo que são as possibilidades por realizar do medium em que trabalham, mantêm-se fieis à sua essência e podem ser reconhecidos como media do cinema (no sentido em que só a arte pode definir os seus media).
Sucessão. Finalmente, e na tentativa de esclarecer o que se acabou de apresentar, uma nota em relação à questão da sucessão na sua articulação com o automatismo e as possibilidades do cinemático. Quando se refere à sucessão, Cavell aponta para os vários graus de movimento das imagens: o movimento capturado, a corrente de frames sucessivos envolvida na sua captura, as justaposições da montagem. Mas a sucessão e a projecção como possibilidades da essência do cinemático, a questão que levou Eisenstein a optar pela montagem e Bazin pelo plano-sequência como a concretização das suas teorias do cinema, não se coloca para Cavell uma vez que uma determinada concretização de uma possibilidade isolada do medium não assegura o seu valor artístico, e nenhuma possibilidade isolada sustenta uma significação concreta. Assim, revela finalmente o seu intuito de libertar o medium da sua prisão na base material, cuja definição não pretende declarar senão as suas condições de existência, que não garantem automaticamente a sua existência enquanto possibilidades estéticas. Aquilo que o cinema pode ser, que atribui significância a estas possibilidades, são as descobertas de forma, género, tipo e técnica que constituem os seus automatismos.
2. Do Cinema Clássico ao Cinema Moderno: Tipos, Ciclos e Géneros – O Fim dos Mitos
“Se definir o medium de uma arte é ajudar a perceber o que foi conseguido e aceite enquanto tal dentro das várias bases físicas de uma arte, e se a base física do cinema é irredutivelmente fotográfica, uma vez que necessita ou torna possível o uso significante da realidade humana e da natureza em si, então os géneros, tipos e individualidades que constituíram os media do cinema são fixados nessa colecção específica de seres humanos com que os filmes foram feitos” (Cavell, 1979: 68-9). Cavell concentra-se assim em três tipos que retira de
O Pintor da Vida Moderna – o Dandy, a Mulher e o Militar -, para fundamentar a ideia de que os tipos são exactamente aquilo que transportou as formas através das quais os filmes se mantiveram tradicionais. Podiam ser criados novos tipos, ou combinações de tipos, mas a iconografia específica do herói, do vilão ou do cowboy nunca era abolida. Era assim que era assegurada a continuidade dos ciclos, entendidos como géneros, e que estes eram a mais óbvia manifestação de que um medium tinha sido criado (tendo em conta que só a arte pode definir os seus media, e que estes respondem à utilização significante das possibilidades dadas pelas suas bases físicas). Um género é um automatismo criador no qual as regras não são elaboradas por um génio isolado mas por uma comunidade cultural, e cujas características não são regras estéticas atribuídas a priori mas princípios comuns a um determinado conjunto de filmes. São assim actualizações e reinvenções das possibilidades do medium cinematográfico que se mantêm pelos tipos que criam, e que os fazem agir segundo determinadas possibilidades imanentes à sua participação num dado género.
A criação de tipos no cinema, que é sempre a criação de tipos específicos do cinema, depende de duas condições criadas no medium pelos filmes, como mostram Chaplin, Keaton e W. C. Fields: que a criação de um actor de cinema é a criação de um tipo, não o tipo de personagens que cria um autor mas aquele que as pessoas verdadeiras são; e que a criação de tipos cria individualidades, personagens que, na sua semelhança com os outros se distinguem pela sua diferença. As grandes estrelas do cinema perceberam este mito da singularidade, e era à sua individualidade que era dado um papel central na projecção – ao mesmo tempo que os personagens não são separáveis daquilo que o actor é, as estrelas não têm existência para além dos filmes em que estão presentes.
Os tipos ramificaram-se num enorme leque de individualidades, sustentadas e asseguradas pela familiaridade e recorrência dos actores, e Hollywood foi o teatro em que surgiram porque os seus filmes constituíam um mundo no qual a nossa convicção nos tipos era imediata porque os reconhecíamos.
Depois de fundamentar assim a permanência do cinema tradicional durante os sessenta anos em que a arte moderna mais arriscou, Cavell declara que estes seres e estes lugares estão mortos. Hollywood acabou, e acaba com o fim dos seus media, esses dispositivos que tinham uma significância inquestionável. Mas responder à questão de saber como é que o cinema se mudou para o ambiente modernista há muito ocupado pelas outras artes é uma questão complexa à qual não adianta dizer apenas que as convenções se esgotaram. Na verdade, foi nossa relação com o mundo e com os outros que se alterou, e já não podemos crer nos media exemplificados pelos ciclos e enredos hollywoodianos porque estes já não sustentam a convicção da nossa ligação ao mundo: depois da Segunda Guerra Mundial já não acreditamos no homem militar porque já não acreditamos que os homens possam fazer juntos o trabalho do mundo; quando o amor se torna racional já não acreditamos que mulheres bonitas possam ser tão interessantes quanto as mulheres bonitas e inteligentes, ou que se pareçam umas com as outras; e numa sociedade que reclama uniformidade e consenso já não acreditamos que o dandy que não expressa os seus sentimentos tenha um fogo interior capaz de o preparar para a acção (talvez seja bom adiantar que Cavell escreve no fim da Guerra do Vietname, quando sente que perdeu a sua ligação aos EUA, e isso pesa sobre a desilusão que exprime nas suas declarações).
Os tipos tornam-se estereótipos em que já não nos reconhecemos. Os actores familiares, que se pareciam connosco, são substituídos por outros que simbolizam a união da mulher com a sua cosmética (agora feita prostética), que se assemelham e se diluem nos lugares que ocupam, que negam a individualidade porque as suas personalidades são já impersonalizações. A neo- Hollywood não é um mundo porque os seus personagens não são, nem podem ser, memoráveis.
É claro que muitos filmes ainda são feitos dentro dos géneros tradicionais, mas são filmes travestidos, disfarçados, que provocam até à exaustão as possibilidades mecânicas mas não descobrem novas possibilidades. A intensificação exagerada das possibilidades é um recurso familiar do desespero artístico, recorrendo à retórica para esconder a perda de convicção no mundo público dos homens, na companhia privada das mulheres, no isolamento secreto do dandy.
É nesse sentido que se enquadra o conceito de automatismo, na transição entre géneros nos quais já não acreditamos e formas que têm de provar o presente da própria arte, em que os filmes estão em processo de questionar a sua relação com a tradição, em que a arte perde a sua relação natural com a sua história, mas no qual o artista tem de criar um objecto que carregue o mesmo peso da experiência que os outros sempre carregaram, e que constitui a história da sua arte. O cinema moderno veio assegurar uma reflexão e uma reinvenção das formas que Hollywood já não podia sustentar.
3. Automatismo e Modernismo Da Nova Teatralização das Imagens ao Reconhecimento do Silêncio
O conceito de automatismo, na sua articulação com o modernismo, assume precisamente essa relação com o passado da arte: o trabalho do artista moderno não é o de activar automatismos que lhe são dados e que já não reconhece como seus, mas explorar o conceito de automatismo em si, como se investigasse o que em cada momento atribui à obra o poder da arte, lhe permite declarar o presente da arte em nome de quem fala. Na arte moderna já não se trata de produzir uma nova instância da arte mas um novo medium dentro da arte, e esta é a criação de um novo automatismo. Este, por seu lado, gera novas instâncias, exige-as como se dissesse que a sua descoberta é mais do que o que um trabalho isolado pode expressar. O automatismo não vai contra o passado, não o nega - para Cavell, negar o passado da sua arte é o que faz a avant garde no cinema, e não tem significância porque contraria a sua essência e não permite que recuperemos a nossa ligação perdida ao mundo. Pretende antes inscrever-se num movimento no qual possa questionar o presente da sua arte e recuperar aquilo que ficou perdido. É neste contexto que, depois de termos perdido a convicção nos automatismos tradicionais, a arte questiona as suas possibilidades e procura as condições nas quais pode sobreviver. Se reproduzir o mundo é a única coisa que o cinema faz automaticamente, ao perder este seu poder perde o poder que tem para nós. Era assim que, ao contrário da pintura, que teve de aprender a revelar sem representar (Cavell desenvolve o conceito de automatismo na pintura sobretudo examinando o trabalho de Pollock, que contornava a teatralização pela abstracção), o cinema ultrapassava automaticamente a teatralidade inerente à representação e à exibição. Mas quando deixamos de acreditar nos mitos e perdemos a convicção de que o cinema apresente um mundo coerente do qual estamos ausentes, sentimos que precisamos de assinalar a nossa presença de forma a assegurar a presenteidade do mundo, e consideramos necessário exibir o sujeito no trabalho que faz.
O cinema assume assim como sua tarefa a exibição, contra a sua natureza, que é a da revelação. Massifica os sons e amplia as figuras, substituindo a intensidade do mistério pela intensidade do mecanismo, e “as súbitas tempestades de flash insets e de freeze frames e de câmara lenta e de planos filmados com tele- objectivas e montagens rápidas (...) – por oposição à utilização de tais experiências nos primórdios do cinema – são respostas a uma alteração da nossa percepção em relação ao cinema, ao sentimento de que o cinema se pôs em questão e que deve ser questionado e confessar-se abertamente”.
Mas o que tem o cinema de reconhecer, depois do fim dos mitos nos quais a nossa convicção era imediata, aos quais se seguiu uma nova e mais exagerada teatralização da imagem? Antes de mais, o reconhecimento [acknowledgment] tem para Cavell um valor essencial5, no sentido em que o reconhecimento é um acto de recognição do sujeito que não pode ser feito sem a admissão da existência dos outros – sem o reconhecimento a arte é meramente exibição, e não nos podemos relacionar com o mundo e os outros sem reconhecermos a sua existência. O que o cinema tem de reconhecer, de declarar, são os seus limites: a exterioridade da câmara em relação ao seu mundo e a nossa ausência dele. Recorrendo a um exemplo que cita de Wittgenstein, Cavell indica que a câmara está fora do seu sujeito como nós estamos fora da nossa linguagem. E, apesar de eu querer que a câmara negue a coerência do mundo, que negue que o mundo está completo sem mim, na sua honestidade ela só pode mostrar um mundo coerente do qual eu estou ausente.
A necessidade do “Reconhecimento do Silêncio”, que Cavell formula a partir das ideias de Wittgenstein, é implicada em dois sentidos: mostrando a necessidade de libertar o mundo das nossas apropriações de forma a reconhecer a autonomia da natureza; e no sentido em que o silêncio é a aceitação da vida das nossas palavras, do facto de nos dissimularmos e revelarmos em cada palavra que pronunciamos. É porque sentimos que deixámos sempre algo a dizer (a fazer) que é exposta a nossa finitude, na nossa impossibilidade de intervir. É esta a importância e o perigo do cinema, o de apresentar um mundo completo sem mim que me é mostrado, que nos faz querer negá-lo, mas que tem grande importância para nós porque implica a sobrevivência da natureza, da natureza silenciosa de Thoreau, e implica assim o reconhecimento da nossa finitude e dos nossos limites. Só assim o podemos reconhecer como o mundo da nossa imortalidade.
Estes limites são as condições da sua candura, o seu destino de revelar tudo e apenas o que lhe é revelado, a sua possibilidade de deixar o mundo e as suas crianças revelarem-se a si mesmas. A nova teatralização das imagens é uma resposta ao sentimento de que o cinema perdeu esta sua possibilidade para nós, mas as mesmas técnicas podem ter usos significantes (Cavell refere, entre outros, o slow motion no final de Bonnie & Clyde, os freeze frames em Jules et Jim, a falta de movimento que reconhece a luz da projecção no epílogo de Eclipse, ou a câmara fixa no final de La Grande Illusion). No modernismo, um medium é assim explorado pela descoberta de possibilidades que declarem as suas condições necessárias e os seus limites. “Coloquei o ênfase no silêncio, no isolamento na fantasia, nos mistérios do movimento humano e da separação: são estas as condições de existência que os filmes, na sua reprodução mágica do mundo, tentam transgredir e não-transgredir”. (Cavell, 1979: 159)
4. Projecção da realidade que responde ao desejo de ver invisível o mundo recriado na sua própria imagem
A questão da projecção torna-se central em The World Viewed porque formula a relação entre o cinema e o cepticismo, que é verdadeiramente o tema que preocupa Cavell e que atravessa toda a sua obra. O próprio título foi uma tentativa de encontrar uma expressão que integrasse o conceito heideggeriano de weltanschauung, implicando uma percepção do cinema que impõe as suas próprias condições de visão, ou de revelação. “A época das concepções do mundo”, texto de Heidegger onde é desenvolvido o conceito de weltanschauung, trata sobretudo do facto de na nossa época a nossa articulação filosófica do mundo falhar em alcançar algo mais profundo que as visões que temos dele, e podemos chamar a estas visões metafísica. Cavell acredita que o cinema tem uma visão metafísica do mundo que se exprime sobretudo na forma como articula a cena da existência humana. O perigo que Cavell encontra nesta formulação, e que exprime numa nota à edição francesa, é o facto de poder sugerir que o cinema está condicionado a priori por um conjunto de conceitos conhecidos pela experiência dos filmes. Opta assim finalmente pela expressão “projecção”, que implica uma deslocalização das condições de existência dos filmes, avançando a ideia de uma intervenção dos humanos e das máquinas na materialização e rematerialização do mundo. A projecção do mundo responde ao nosso desejo de criar condições para que possamos ver invisíveis o mundo recriado na sua própria imagem.
É porque ultrapassa automaticamente a subjectividade que se interpôs entre nós e o mundo que o cinema devia satisfazer o nosso desejo de real, permitir-nos criar as estruturas que possibilitassem a nossa relação com o real que existe agora para nós. Porém, a realidade projectada apenas nos faz sentir como natural a nossa deslocalização do mundo e o facto de nos relacionarmos com ele através da visão. Desejamos ter “o mundo recriado na sua própria imagem” e os filmes apresentam-nos o mundo de forma mágica, permitindo-nos vê-lo invisíveis. O carácter fotográfico do cinema colocou-nos assim numa confortável posição: somos invisíveis em relação à dor dos personagens, e eles à nossa, e não temos de casar as nossas fantasias com o mundo, podemos escondê-las na altura em que elas são tão privadas que sentimos que não as podemos comunicar e, ao mesmo tempo, jorram pelo mundo, tão públicas quanto nunca. Mas sem o reconhecimento da sua individualidade, que implica o reconhecimento dos outros, não há esperança para o mundo. “A nossa responsabilidade em relação ao nosso desejo é reconhecê-lo, e reconhecer a autonomia do seu objecto em relação a nós”. O cinema não pode impedir a nossa retirada do mundo, mas pode mostrar que é essa a nossa condição, que o nosso sentimento de isolamento e de perda de ligação ao real consiste em nos relacionarmos com ele através da tomada de vistas. Os filmes convencem-nos da existência do real do mundo da única forma em que queremos ser convencidos: sem aprendermos a trazer o mundo para mais perto do coração, mas vendo-o. Desejamos a condição da visão, de ver invisíveis, de nos relacionarmos com o mundo “por detrás do sujeito como por detrás de uma câmara”. É porque os filmes nos deslocalizam automaticamente que nos aliviam da nossa condição e que parecem mais naturais que a realidade; mas também são eles que nos permitem manter os olhos abertos e que podem acordar o sujeito, fazendo-nos reconhecer a estranheza da nossa condição.
5. Cinema como “imagem em movimento do cepticismo” - Comédia e Melodrama
Retomamos a questão da projecção do mundo para tentar esclarecer de que forma é que um realista baziniano pode ser um céptico: “A minha impaciência em relação à ideia de que as fotografias nunca projectam ou revelam verdadeiramente a realidade (quando, na verdade, elas o fazem de forma óbvia), expressa o meu sentimento de que aqui, como em todo o lado, um falso cepticismo é usado para negar essa responsabilidade humana. (...) O cinema é uma imagem em movimento do cepticismo: (...) os nossos sentidos são satisfeitos de realidade quando a realidade não existe – até, alarmantemente, porque não existe, porque vê-la é tudo a que temos acesso”. Percebemos desde já o corte que Cavell estabelece com a “moda teórica em vigor” segundo a qual nunca podemos ver a realidade como ela é porque esta é uma construção ideológica. Negarmos a realidade com base em teorias que são “mais fortes que a realidade em si” é negarmos a nossa responsabilidade, a responsabilidade da nossa condição de querermos ver invisíveis o mundo na sua própria imagem. Para Cavell, o cepticismo não é uma doutrina filosófica mas uma marca da condição humana, que o cinema exprime através da sua exibição das diferentes formas que usamos para lhe dar voz. Mas o cinema, enquanto expressão do cepticismo, implica já também a capacidade da sua superação.
Apesar de The World Viewed tratar das formas enquanto possibilidades estéticas e Pursuits of Happiness e Contesting Tears tratarem de dois géneros - a comédia do recasamento [comedy of remarriage] e o melodrama da mulher desconhecida -, aquilo que os une é a questão do cepticismo. Neste segundo momento, o cepticismo não é aqui pensado como a capacidade de duvidarmos do conhecimento sensorial mas como uma condição da nossa experiência e do nosso conhecimento, em que o centro da questão já não é colocado nas nossas dúvidas sobre o conhecimento exterior mas no medo de estarmos fechados em nós próprios, de termos perdido toda a relação com o mundo e com os outros, e é por isso que nos recusamos a vivê-lo. Cavell entende o cepticismo moderno como uma máscara que usamos para esconder e negar aquilo que consideramos uma evidência, a impossibilidade de nos ligarmos outra vez ao mundo, de recuperarmos o nosso lugar, depois de termos assinado a nossa retirada. Se não nos podemos assegurar da existência do mundo, temos de aceitar que o mundo existe, e temos de aceitar os outros – isto não exprime um modo de conhecimento mas de reconhecimento. Em The Claim of Reason, obra na qual Cavell investiga exaustivamente o cepticismo, este surge como a nossa condenação à expressão e a nossa desilusão com os seus limites. Neste sentido, o cepticismo surge na remarriage comedy como a impossibilidade de se ligar ao outro através da linguagem, a impossibilidade de estabelecer uma conversa, como o par Hepburn/Grant em Philadelphia Story. Precisam de reconhecer as suas diferenças e aprender a falar a mesma língua, de se recriarem e confrontar o cepticismo, precisam de se afastar um do outro (como nos afastámos do mundo) para se poderem voltar a encontrar. É quando ultrapassam esta dificuldade que podem ficar juntos, e é neste movimento que Cavell entende que este género ultrapassa o cepticismo na forma como manifesta a vontade, que sobrevive às histórias contadas, de voltarmos a casarmo-nos com o mundo. O casamento entra assim em jogo como a categoria em que se revelam e resolvem as tensões do cepticismo, em que as conversas são o lugar do seu confronto – é aquilo a que a Filosofia chama o quotidiano, aqui entendido como o ordinário que mostra necessidade de reencontrar a adequação das nossas palavras ao mundo, a reconciliação da nossa experiência com as coisas. O recasamento reafirma a nossa pertença ao mundo e o nosso reconhecimento dos outros, sem os quais não pode existir comunidade.
O melodrama, naquilo em que deriva e em que contraria a remarriage comedy, mostra por seu lado como a conversa pode falhar. Em Contesting Tears, Cavell refere a ironia sádica do marido de Ingrid Bergman em Gaslight como uma negação da possibilidade da conversa e o reconhecimento do isolamento. Também em Stella Dallas a ironia surge como negação da conversa, o que leva a concluir que a conversa surge no melodrama enquanto um lugar infeliz de transformação, enquanto negação da possibilidade de se ligar ao outro. É assim que as mulheres do melodrama têm de reconhecer a sua existência pela metamorfose que é uma possibilidade do medium, realizando uma tarefa isolada e indo contra os homens e a sociedade em geral. Procuram uma condição mais perfeita, e é dessa forma que se tornam críticas da sociedade, assumindo a procura de um caminho para o perfeccionismo moral que assume um lugar central na terceira fase da filosofia de Cavell, e na sua relação com a ética.
6. O Mundo Visto, o Cinema como Pedagogia e as questões da Ética
A educação parece ser, no cinema, o dispositivo de aceitação do cepticismo. Na Remarriage Comedy, a mulher é educada pelo homem com o intuito de fazê-la perder o seu estatuto de deusa e regressar ao lugar de mulher comum. Nos melodramas, por seu lado, a mulher recusa a educação que seja imposta por outros e terá de fazer sozinha o percurso da aprendizagem, contra eles. Sermos educados implica ultrapassarmos o medo da nossa condenação à expressão e reconhecermos o cepticismo. O facto de se trabalhar os géneros implica à partida não só que os personagens vão agir de uma determinada maneira, como manifesta a possibilidade de nos reconhecermos (ou negarmos o reconhecimento) nas suas acções, e assim aprendermos também com o processo da educação. O cinema conta a história da nossa condição, dirige-a a um público colectivo e implica uma experiência à qual é indispensável que tenhamos de nos relacionar com os outros e de nos expressar de forma a reconhecer a significância de determinada obra. O facto de só o nosso acordo determinar a sua importância inscreve inegavelmente o cinema enquanto experiência estética integrada na nossa vida comum, e contraria assim o individualismo e o solidão. A maiêutica de Cavell é bastante explícita no modo simples, quase coloquial que utiliza para dizer coisas muito complexas. Afirma que isto se deve àquilo que exige da Filosofia “a restituição da emoção da visão, com a ajuda de um vocabulário que resiste à técnica ao mesmo tempo que tem uma perfeita consciência desta linguagem técnica. (...) É preciso conhecer a teoria, saber projectar-se na abstracção, mas ao mesmo tempo é preciso saber resistir para que a experiência não seja perdida”. Devolver o ordinário à filosofia, e fazer com que esta não se preocupe senão, mas de modo consciente e sistemático, com as questões que os homens comuns já colocam, ainda que inconscientemente, na vida quotidiana. O cinema potencia a possibilidade destas questões serem colocadas. Uma ontologia do cinema, no sentido em que Cavell a empreende, considera em primeiro lugar as nossas formas de relação com o mundo, e as formas como as relações que estabelecemos foram influenciadas pela nossa condição enquanto espectadores de cinema. Mas das questões ontológicas, da expressão das nossas condições de existência, Cavell preocupa-se, sobretudo em Cities of Words, com a vontade de transformação, que é potenciada pelo sentido de crise existencial em que o cinema nos pode colocar. Cavell exprime a questão ética sobretudo nos termos do perfeccionismo moral, na possibilidade da transformação humana no sentido do “unattained but attainable self” de que fala Emerson, um ser que é nunca o nosso, mas para o qual a nossa inquietude ontológica nos pode fazer caminhar. Se, num primeiro momento, o problema é ultrapassar o desespero moral de nunca podermos vir a conhecer o mundo tal qual é, e se o cinema traz consigo não só o cepticismo como também a possibilidade da sua superação, num segundo momento o desespero é direccionado para a insatisfação com a nossa condição, e a vontade de auto-transformação. É por defender que o cinema pode funcionar como educação dos adultos que em Cities of Words e no Appendix to Pursuits of Happiness defende a integração do ensino do cinema nas universidades. Considera indispensável estudar o cinema enquanto disciplina independente mas, por razões óbvias, concentra-se sobretudo na sua integração na Filosofia, não para pensar as suas articulações mas para saber o que podem ter a dizer um sobre o outro (“O cinema estava destinado a reorientar tudo o que a Filosofia tinha dito (...)”). O exemplo que dá, em Pursuits of Happiness, que ilustra a forma como esta articulação pode ser feita é aquele que articula Heidegger e Buster Keaton, e que surge no texto que se segue.
1. No que se tornam as coisas no Cinema?
Estas comentários, aproximadamente, foram lidos num dos simpósios do Congresso Anual da Modern Language Association, que teve lugar em Chicago em Dezembro de 1977. O título do simpósio era "Chosisme e o Cinema: a percepção da realidade física no Cinema e na Literatura". Para além do convite que me foi feito para comentar as comunicações submetidas, o seu tema era o trabalho do Professor Terry Comito. As ideias que organizei para esta minha contribuição tiveram um papel muito importante no desenvolvimento do meu pensamento sobre os filmes, o que se revela desproporcional em relação à sua dimensão reduzida (foi publicada pela primeira vez em Philosophy and Literature, vol. 2 no. 2, Outono 1978). Foram posteriormente explicitamente recuperadas sobretudo para o capítulo Adam's Rib do meu livro Pursuits of Happiness, onde leio a presença do seu filme-dentro-do-filme (um home movie ficcional) como a demonstração de que "nenhum acontecimento dentro do filme (isto é, nenhum processo de enquadramento ou montagem) é tão significante (tão cinemático) quanto o acontecimento do filme em si".
E será que este título exprime uma verdadeira questão? Isto é, aceita-se a sugestão de que exista uma relação particular (ou um sistema particular de relações, que aguarda um estudo sistemático) entre as coisas e as suas projecções filmadas, o que é o mesmo que dizer entre originais que estão agora ausentes (pelo seu visionamento num ecrã) e os novos originais agora presentes (pela fotogenesis) - uma relação para ser pensada como uma coisa que se torna uma coisa (como uma escavadora que se torna uma borboleta, ou um prisioneiro que se torna conde, ou uma emoção que se torna consciente, ou como quando surge a luz depois de uma longa noite)? O título é, de qualquer forma, a formulação que encontrei para a questão central desta discussão. Dos muitos assuntos, e muitos níveis do assunto, levantados pelas comunicações que fui convidado a comentar, escolhi dois momentos em que o meu trabalho sobre o cinema foi referido, desejando assim contribuir para a discussão no campo da teoria do cinema.
O primeiro momento em que sou citado (ou em que eu e Heidegger somos citados) surge na passagem "A imagem cinematográfica acentua a conspicuidade, impertinência e obstinação das coisas." Peço desculpa por ter dado semelhante impressão. O contexto do que disse6 - que decorria de ter dado alguns exemplos de como o pensamento sobre os filmes e o pensamento filosófico se cruzavam no meu trabalho - era este: em Ser e Tempo, desde logo que Heidegger caracteriza a forma específica em que os fenómenos ocorrem, nos seus termos, da "mundanidade do mundo anunciando-se a se mesma"; é um fenómeno em que é mobilizada uma forma particular de tomada de vista ou de consciência. O que mobiliza esta forma de tomada de vista é a disrupção daquilo a que Heidegger chama o "trabalho-mundo", a disrupção dos eventos que circulam entre as nossas ferramentas, e a ocupação que expandem, e o ambiente que suporta estas ocupações. É sobre a disrupção destes eventos (de uma ferramenta que se parte; de alguém que não trabalha porque se magoou; de uma falta de material) que o modo de tomada de vista, agora trazido à frente, descobre nos objectos aquilo que Heidegger diz ser a sua conspicuidade, impertinência e obstinação. E agora, aquilo para que apontava o que eu disse era: impressionou-me que esta percepção ou apreensão das coisas no nosso mundo seja parte essencial da comédia do cinema mudo; e, em particular, que Buster Keaton seja a figura cómica cujo extraordinário trabalho e cujo extraordinário olhar, talvez o traço essencial do seu carácter, iluminam e são iluminados pelo consequente conceito da comunidade mundial do mundo a anunciar-se a si própria.
Apesar de partir do simples despontar desta ideia para formular uma possibilidade das imagens cinematográficas das coisas deste mundo, não se pode esperar que todas as imagens cinematográficas tenham esta força, da mesma forma como não se pode esperar que todas estejam ao serviço do tipo de comédia que faz Keaton; tal como não se pode crer que tais imagens esgotem o que há para dizer sobre Keaton ou sobre Heidegger, ou sobre possíveis relações entre eles. O que esta ideia tem de fazer é ajudar-nos a ver e a dizer finalmente do que é que Keaton nos permite rir e qual é concretamente a natureza do modo de visão pelo qual Heidegger começa a sua análise do estar-no-mundo. Este riso não é definido, por exemplo, pela sugestão bergsoniana de que o ser humano se tenha tornado semelhante às máquinas, ou vice versa. Keaton é tão flexível e tão engenhoso quanto Ulisses, e as suas gigantescas máquinas fazem exactamente o que é esperado que façam sob determinadas circunstâncias. Temos aqui que introduzir alguma coisa sobre a capacidade humana de ver, ou da percepção sensível em geral, alguma coisa que pode ser expressa como a nossa condenação a projectar, a habitar, um mundo que está essencialmente para lá do que é perceptível aos nossos sentidos. Este parece ser o único ponto de consenso de toda a História da Epistemologia, ou pelo menos da sua História moderna, digamos a partir de Descartes. A conclusão mais comum entre os epistemologistas tem sido uma espécie de cepticismo – a compreensão de que não podemos, em rigor, dizer que conhecemos, que temos a certeza da existência do mundo das coisas materiais. Penso que Buster Keaton, por exemplo em The General, está a exemplificar a aceitação da enormidade desta compreensão da limitação humana, sem negar nem o abismo que a qualquer altura se pode abrir no caminho dos nossos planos nem a possibilidade, apesar dessa possibilidade aberta, de viver honrosamente, com uma alma boa ainda que resignada, e com esperança eterna. A sua capacidade para o amor não evita este conhecimento, mas vive com a inteira consciência dele. “É ele confiante? Ele é algo ainda mais raro: é desconfiado”. Incorpora tanto a necessidade da precaução num mundo incerto, como os limites necessários da percepção humana: podemos olhar o que quisermos que haverá sempre algo por detrás das nossas costas, espaço para a dúvida.
Comparemos rapidamente com o conhecimento de Chaplin e o mundo das suas coisas, por exemplo em The Gold Rush, feito no mesmo ano de The General (1925). E tomemos em conta as duas mais famosas cenas desse filme, o jantar do Dia da Acção de Graças, em que comem sapato assado, e a sonhadora dança dos pães nos garfos. Nos dois casos, um objecto é tomado e tratado como algo que não é. A capacidade de ver assim objectos é estudada na segunda parte das Investigações Filosóficas de Wittgenstein através do conceito de “ver como”, conceito que Wittgenstein toma como base para o seu estudo da interpretação. A esta capacidade humana de ver ou de tomar algo por algo, Wittgenstein atribui a nossa capacidade de intimidade na compreensão, a que podemos chamar a intimidade do sentido que associamos às palavras e gestos. Que as rotinas de Chaplin sejam opostas em determinado sentido permite-lhes sugerir um mundo preenchido de tal compreensão – num caso um sapato é tratado enquanto comida (num caso de desesperada necessidade), no outro a comida é tratada como um sapato (num caso de desesperada abastança); em ambos, a sua imaginação aloja a sua exaltação e a sua dor. A loucura da sua significação mantém-no são (podíamos dizer que a comunidade do mundo no mundo nunca se revela ao pequeno homem; ele está ao mesmo tempo demasiado dentro do mundo e demasiado fora).
Suponhamos que Keaton e Chaplin constroem a sua comédia com base no facto de uma criatura como o ser humano estar condenado a perseguir a felicidade, e que pretendem demonstrar que tal criatura é afinal, no fim de contas e sob condições muito exactas, capaz de felicidade. Então Keaton mostra que estas condições são essencialmente aquelas da virtuosidade, ou da consciência – por exemplo de coragem, de temperamento, de lealdade, e de uma capacidade do corpo a que Spinoza chama sabedoria; uma capacidade de manter a pose independentemente do que acontece aos seus planos (o exterior de si). Chaplin mostra que estas condições são aquelas da imaginação livre, em particular da imaginação da felicidade em si - a capacidade de manter a moral não obstante o que lhe tenha acontecido (o interior de si).
A lógica do cepticismo exige sobretudo duas coisas: que se descubra que o conhecimento falha nos melhores casos – quando sabemos, por exemplo, que estou sentado em frente à lareira, ou que dois mais três é cinco – e que este falhanço seja percebido de formas abertas a qualquer ser humano, e não algo conhecido apenas por especialistas. Requer apenas a vontade de saber. A lógica da comédia que absorve o cepticismo (de formas opostas em Keaton e Chaplin) requer que descubramos capacidades interiores e exteriores em relação aos objectos que nos permitam ter sucesso nos piores casos, e que isto seja realizado através de uma conduta precisa e bela, por princípio aberta a qualquer ser humano normal. Requer apenas a vontade de se preocupar.
O segundo momento em que o meu trabalho é mencionado ocorre na interessante discussão de Buñuel feita por Elliot Rubinstein, na qual questiona a ideia de Robbe-Grillet de que “o cinema só conhece um tempo verbal: o presente do indicativo”7. Outros, nos quais me incluo, têm na verdade questionado o que significa o “presente” quando aplicado aos objectos fílmicos. Rubinste§in expande de forma interessante esta ideia ao “indicativo” em geral, caracterizando Belle de Jour como explorando “as possibilidades da câmara no domínio do conjuntivo”. Rubinstein não está a falar apenas da verdade geral, presente desde o início do cinema, de que a câmara pode emprestar-se à projecção da fantasia tão prontamente quanto à da realidade; mas refere-se, mais concretamente, à descoberta de que os acontecimentos projectados permanecem inteligíveis para nós mesmo se, sem aviso convencional (ou gramatical?) – em concreto, sem alterações na banda sonora, ou na representação dos actores, ou na forma de filmar – alternarem entre o retrato do real e o da fantasia, chamemos-lhe a alternância entre o indicativo e o conjuntivo. Rubinstein vai além desta pequena abordagem intelectual ou técnica: considera que a descoberta de Buñuel em Belle de Jour significa uma vitória artística. Recorrendo à minha memória do filme a partir de um visionamento já longínquo, e influenciado pela configuração de Rubinstein, estou inclinado a concordar com ele. Mas pretendo sobretudo colocar o ênfase no facto de a descoberta intelectual ou técnica e a descoberta artística não se garantirem uma à outra. Esta é uma das ideias mais primitivas da estética que tem de ser constantemente recordada quando se fala da arte moderna, na qual a realização artística parece muitas vezes ser o resultado de uma descoberta intelectual ou técnica. Uma instância que está agora à mão surge no Trans-Europe Express de Robbe-Grillet. Foi dito por um dos presentes no painel desta sessão que exemplificava o processo que se discute em Belle de Jour, o da justaposição não- demarcada do actual e do... quê? Chamemos-lhe o imaginário. (Já se sente uma tal distinção a perder terreno. E ao que devia dar terreno é a um conjunto de ideias que exprimi em The World Viewed quando disse: “É uma pobre ideia de fantasia se a tomarmos como um mundo aparte da realidade, um mundo mostrando claramente a sua irrealidade. Fantasia é precisamente aquilo com que a realidade pode ser confundida” [p. 85]). Mas acho que Trans-Europe Express é um trabalho mais ou menos desinteressante. E é, para mim, uma questão de lógica que nenhum procedimento descoberto por uma obra em particular possa provar que essa obra tenha mais valor artístico que aquele que a obra em si, ou uma relevante parte dela, conquista. (É claro que a obra pode inspirar um artista melhor ou diferente a olhar com mais profundidade para as possibilidades desse procedimento. E é claro que não podemos supor que sabemos se, e como, os procedimentos em questão são de facto os “mesmos”). Devemos então dizer que a superioridade de Belle de Jour não é uma função de qualquer procedimento desse tipo, mas que se deve antes à presença de fenómenos tais como Catherine Deneuve, o trabalho de câmara de Sacha Vierney, e o génio de Buñuel? Porém acho que sentimos imediatamente que tal alternativa é falsa em relação à experiência que temos do filme, e que os fenómenos da actriz, câmara e realizador devem ser tidos em conta de forma a saber como o procedimento se empresta a eles, e vice-versa. Gostaria de dizer: no filme de Buñuel o procedimento encontrou o seu assunto natural, o que, se aceitarmos este filme como uma obra-prima do médium do cinema, significa: em Belle de Jour o cinema encontrou um dos seus assuntos principais. Qual é este assunto?
Buñuel diz, ou alguém diz por ele: a natureza masoquista dos impulsos de uma mulher8. Rubinstein diz, ou sugere: o equilíbrio entre o sadismo e a domesticidade burguesa. Como nos podemos convencer de que isto são respostas, boas respostas, à questão que formulei?
Noto que há outra obra-prima do cinema feita um ano antes de Belle de Jour que utiliza o procedimento das justaposições indeléveis da realidade com uma certa oposição em relação à realidade, e que mantém o seu equilíbrio, a sua irresolução, até ao fim: estou a falar do Persona de Bergman. E também este filme tem como aquilo a que podemos chamar o seu assunto a imaginação de uma mulher, ou de uma mulher bonita, ou talvez de duas mulheres; o que sem dúvida significa em parte que: a imaginação de um homem da imaginação de uma mulher, ou talvez a compulsão de um homem a imaginar a imaginação de uma mulher. Mais concretamente, ambos os filmes tratam do significado, limites ou condições, da identidade feminina, e assim sem dúvida da identidade humana. (não quero esconder que tomo como sendo uma obrigação da crítica a declaração exacta do assunto da obra).
O que há no cinema que o preste a tal assunto? (A validade e premência de tal questão é aquilo a que solenemente se chama “a ontologia do cinema”). Dois outros filmes – obras-primas do seu tempo – podem ser importantes na especificação da questão que tentamos formular. Vertigo9, de Hitchcock, da década anterior, e It’s a Wonderful Life, de Capra, de uma década antes dessa. O clímax do filme de Capra é tão conjuntivo quanto um filme pode ser, é a realização do desejo de nunca ter nascido; e é filmado e representado de nenhuma forma em especial e sem marcas de convenção que manifestem a sua quebra em relação ao resto do filme. É verdade que nós, espectadores, não temos dúvidas em relação à mudança do plano da realidade, mas o personagem com quem nos identificamos é torturado exactamente por esta dúvida; é uma expressão da auto-dúvida deste personagem, dúvida sobre o valor da sua existência. E uma vez que este valor é explicitamente caracterizado como uma questão da diferença que a sua existência faz no mundo, a dúvida pode ser tida como em relação à sua identidade – algo amplamente registado no clímax do clímax quando ele se vira angustiadamente para os amigos, para a mulher e depois para a mãe, perguntando-lhes desesperadamente: Não me conhecem? Digam-me quem eu sou. Em Vertigo não vamos de um lugar real para um lugar projectado, mas somos empurrados a partilhar a demanda quase alucinatória e quase necrófila do herói, no domínio do conjuntivo, pela mulher que ele imagina estar morta. A confusão de saber se há uma mulher ou duas, ou se uma está viva ou morta, é sentida como uma confusão da sua própria identidade. A sua existência tem lugar num outro sítio que não o mundo que vemos. O objectivo, crítico e teórico, de considerar o procedimento das realidades justapostas é o de nos preparar para fazer o que qualquer leitura de um filme deve fazer – ter em conta que os enquadramentos do filme são o que são, na ordem em que surgem; por exemplo, dizer o que motiva a câmara a olhar e a mover-se como olha e move. Os filmes de Capra e de Hitchcock tornam claro o poder do cinema de materializar e satisfazer (e assim desmaterializar e distorcer) os desejos humanos que escapam à satisfação humana do mundo tal qual é; ou talvez como alguma vez será, ou poderá estar. (Os desejos de quem, do personagem ou do espectador? Penso que gostaríamos de dizer dos dois. Mas a justificação desta resposta requereria a compreensão da natureza da “identificação” do espectador com os personagens filmados). Acho que não é ao acaso que o actor de ambos os filmes é James Stewart, de que tanto Capra como Hitchcock vejam no temperamento de Stewart (o que é obviamente falar do que acontece ao temperamento de Stewart no cinema, a sua fotogenesis) a capacidade de afirmar a identidade acima do poder da vontade, acima da capacidade e pureza da imaginação e do desejo – não no seu trabalho, posição, sucesso, aspecto ou inteligência. Digamos que a qualidade que Stewart projecta é a inclinação ao sofrimento – a qualidade que Capra também regista em Mr. Smith Goes to Washington e que John Ford utilizou em The Man Who Shot Liberty Valance. É a qualidade que o faz ser admitido na companhia de mulheres cuja procura de identidade parece ter desenhado os contornos do assunto do cinema ao qual tenho tentado dar expressão. Chamemos a esse assunto a identificação ou a vivência de uma região feminina do sujeito, seja esse sujeito feminino ou masculino. (Parece surgir imediatamente a comparação com Ugetsu de Mizoguchi. Não sinto que conheça tão bem o temperamento ou o ambiente deste homem que possa determinar as suas possibilidades fotogenéticas – por exemplo, a sua feminilidade. Mas noto que o seu desejo, ou pelo menos o seu desejo final, não é pela trasladação para uma habitação oposta, mas para uma figura em particular que possa habitar, ou reabitar, a sua própria figura. Este desejo parece-me ter a sua fonte não na mulher que tem em si, mas na criança em si. A sua materialização é numa mulher movendo-se no seu quarto familiar, e isto acontece enquanto ele está curvado no chão; a nossa resposta não é a de um nó na garganta mas a de um coração partido.)
Ser humano é ter, ou arriscar-se a ter, esta capacidade de desejar; ser humano é desejar, e em particular desejar uma identidade mais completa que aquela que até agora alcançámos; e tal desejo pode projectar um mundo completo por oposição ao mundo que agora partilhamos com os outros: esta é uma forma de entender a causa do Romance Shakespeariano. Se assim é, não surpreende que um procedimento cinematográfico que explora esta causa seja aquele que justapõe modos e disposições da realidade no seu todo e os confronta com outra realidade. E assim o romance partilha com o cepticismo a condição, nos termos da Primeira Meditação de Descartes, de que “não há indicações conclusivas através das quais a vida acordada possa ser distinguida do sono”. A consequência desta condição, continua Descartes, é que “Estou bastante surpreendido, mas o meu desassossego é tal que quase me consegue convencer que estou a dormir”. Tanto no cepticismo como no romance, o conhecimento, chamemos-lhe a consciência no seu todo, deve ser excluído de forma a que uma melhor consciência possa surgir. (A ideia de modos e disposições da realidade que se alteram mutuamente enquanto totalidades, ou a ideia de que conceitos da consciência e do mundo em si sejam feitos um para o outro, na imagem um do outro, é expressa na declaração de Wittgenstein quase no fim do Tractatus: o mundo dos felizes é outro em relação ao dos infelizes. A isto podemos juntar que os mundos podem ser justapostos no mesmo coração.)
Integrando um último filme nesta discussão estarei pronto para explicitar uma moral. Rubinstein cita o que diz Susan Sontag sobre os filmes de Godard: “Nos filmes de Godard as coisas têm uma personalidade totalmente alienada. Caracteristicamente, são usadas com indiferença, nem com mestria nem com desleixe; estão simplesmente lá. ‘Os objectos existem’, escreveu Godard, ‘e se lhes dermos mais atenção que a que damos às pessoas, então é precisamente porque existem mais que estas pessoas. Os objectos mortos ainda estão vivos. As pessoas vivas muitas vezes já estão mortas.’ ” Eu conheço esta citação de Godard apenas da sua voz, ou meia-voz, enquanto narrador de Duas ou três coisas que eu sei sobre ela. Sabemos que devemos desconfiar da verdade completa de qualquer declaração deste narrador, quanto mais não seja porque ele próprio questiona recorrentemente as suas declarações. Duas ou Três Coisas, feito no mesmo ano de Belle de Jour, é também um filme sobre uma burguesa que passa as tardes como prostituta, e que também liga explicitamente as questões sobre a sua identidade com as especulações sobre a natureza e existência do mundo exterior. Este filme tem justaposições de objectos filmados com um carácter extraordinário para o qual o realizador Alfred Guzzetti chamou a atenção10. Depois planos da mulher, e alguns outros, num café, a câmara alterna, utilizando planos progressivamente mais fechados, entre planos de uma chávena de café que é mexido, e por fim debruça-se sobre o copo até que o líquido borbulhante que ondula como um todo enche o rectângulo do cinemascope; a banda sonora ascende a uma meditação poética que se ajusta à nossa vontade de conceder a esta imagem o poder de invocar o movimento do universo, e assim a questão da sua origem e fim.
É assim que cortamos para a imagem do bruto barman a encher um copo de shot, e depois a tirar uma cerveja da máquina de pressão que enche agora o enquadramento. Uma possível leitura da justaposição entre o copo-universo e o barman é enquanto uma crítica do nosso desejo de uma meditação poética sobre as origens universais quando nem sequer sabemos de onde vêm a cerveja e o café que bebemos na terra – que os bebemos em sítios reais feitos por pessoas reais exactamente para esse propósito; e que nos são entregues por pessoas reais cujos modos de vida dependem do facto de estes serem comprados. Podemos especular, entre outras coisas, se a brilhante máquina de pressão, trabalhada pelo barman enquanto este observa a cena da meditação, poderá ser um comentário à ideia da câmara de filmar.
A moral que explicito é esta: a questão do que acontece aos objectos quando são filmados e projectados – tal como a questão do que acontece a pessoas em particular, a locais específicos, a assuntos e a temas quando são filmados por realizadores individuais – tem apenas uma fonte para a sua explicação, nomeadamente o surgimento e significância de precisamente esses objectos e pessoas na sucessão de filmes, ou excertos de filmes, que têm significado para nós. Exprimir a sua aparência, definir tal significância, e articular a natureza desta materialização, são actos que ajudam a construir aquilo a que podemos chamar crítica de cinema. Assim, explicar como tais aparências, significâncias e materializações – estes acontecimentos específicos da fotogénesis – são tornados possíveis através da fotogénesis geral dos filmes no seu conjunto, o que acontece porque, tal como de certa forma digo em The World Viewed, os objectos no cinema estão sempre já deslocalizados, trouvé (i.e., de que nós enquanto espectadores estamos sempre logo deslocalizados perante eles), seria um procedimento daquilo a que podemos chamar teoria do cinema.
1.1. Comentário
A importância deste texto, e por isso a razão da sua escolha, prende-se sobretudo com a forma como faz a ligação entre The World Viewed, Pursuits of Happiness e Contesting Tears. De facto, de certa forma todos os textos de Cavell se articulam, servem um propósito comum, um todo, mas, ao mesmo tempo, todos mantêm a sua autonomia (Cavell que diz que a sua filosofia do cinema é um todo que garante a autonomia dos seus fragmentos). Por um lado, ao colocar as questões da identidade, da ontologia e da realidade, Cavell complementa as ideias de The World Viewed. Por outro, na forma como liga as questões da identidade e do cepticismo ao romance shakespereano, e as questões das condições, limites e significado da identidade humana à identidade feminina, ou à região feminina do ser que todos partilhamos, antecipa Pursuits of Happiness e Contesting Tears. Mas este texto abre também, e de forma muito relevante, para aquilo que considero ser um tema bastante importante da filosofia de Cavell, mas que é, porém, muito poucas vezes comentado na sua articulação com o cinema: a relação do ordinário e do cepticismo com o possível heideggeriano, a fantasia e a disrupção que perturba o acontecimento. Esta é uma relação que o cinema revela à filosofia, que este torna óbvia para ela, e que terá um lugar muito relevante no pensamento de Cavell, e marcará talvez um ponto de viragem na forma como interpretamos o seu pensamento, num texto escrito quase vinte anos depois, “Concluding remarks on La Projection du Monde”. “No que se tornam as coisas no cinema” introduz a questão através da análise dos pares Keaton/Heidegger e Chaplin/Wittgenstein, abordando o a forma como o cepticismo irrompe por todos os lados, acessível a toda a gente, e evidenciando a necessidade de trazer o ordinário (e o fantástico, que dele faz parte) de volta para a filosofia. Cavell, como Emerson, acredita que o fantástico irrompe no ordinário, e se é urgente, no entendimento de Cavell, trazer o ordinário para a filosofia para que esta não se afaste do homem, então os espaços de libertação do fantástico são também implicados na nossa vida comum, e são aquilo que nos lembra continuamente do lugar para a dúvida. Também tal como Emerson (e como Thoreau ou Heidegger), Cavell tem grandes ambições em relação à qualidade literária dos seus textos filosóficos. Mas, também à sua semelhança, escreve de uma forma complexa, não sistemática, o que não só torna os seus textos difíceis de ler como é, em grande parte, responsável pela rejeição da inscrição dos seus textos nos currículos académicos dos estudos em cinema. A nossa única ambição, aqui, é demorarmo-nos em cada um dos quatro temas do texto e articulá-los com os textos em que cada uma destas ideias é mais desenvolvida. Cavell, em Cities of Words, refere duas formas de ler o texto filosófico: a leitura lenta, em que se articula o texto com outras referências e se perde tempo com ele mesmo sabendo que não terá fim (se for importante, temos a impressão que é inesgotável); a rápida, em que depressa se larga o texto para partir para outro texto. De certa forma, defende a rápida para a leitura de Cities of Words; o que aqui vamos tentar perceber é de que forma o comentário e a articulação entre os textos de Cavell permite resolver o problema da sua falta de sistematicidade e revelar a complexidade e o terreno fértil que é a sua filosofia para a teoria do cinema. É neste sentido que se articula “No que se tornam as coisas no cinema” com textos como “The Fantastic of Philosophy” ou “Something out of the ordinary”, mas sobretudo com “Aquilo a que a Fotografia chama o Pensamento”, também aqui apresentado. As questões que nos guiarão são aquelas que surgem em “No que se tornam as coisas no cinema”, mas a sua articulação com “Aquilo a que a Fotografia chama o Pensamento” torna mais evidente não só a forma como os textos de Cavell ecoam uns nos outros, como nos permite desenvolver as questões que aqui surgem. Tendo em conta as questões que nele são colocadas, dividimos o texto em quatro temas: metamorfose e fotogenesis; cepticismo, ordinário e fantástico; identidade feminina (ou identidade humana, ou ainda ontologia) e romance shakespereano; crítica e filosofia do cinema (ou crítica e teoria). Por agora, não adianta desenvolver em concreto o que é cada uma destas ideias, mas, contudo, gostaria de dizer alguma coisa sobre os filmes abordados por Cavell, e de que forma as razões para esta selecção se ligam à forma como entende aquilo que deve ser uma filosofia do cinema. Outra das razões para a escolha deste texto, e para a sua articulação com “Aquilo a que a fotografia chama pensamento”, prende-se com o facto de, em ambos, Cavell escolher filmes que vão desde o cinema mudo e do cinema clássico norte-americano (Mr. Deeds Goes to Town, It’s a Wonderful Life, ambos de Capra, The General, de Keaton, ou The Gold Rush, de Chaplin) ao cinema de autor europeu (Deux ou Trois Choses que Je Sais d’Elle, de Godard, Belle de Jour, de Buñuel ou Sweet Movie, de Makavejev). Desta forma, são ambos bastante expressivos da forma como Cavell entende aquilo que deve ser uma crítica e uma filosofia do cinema. Em primeiro lugar, Cavell é, como tantas vezes repete, um filósofo americano, empenhado em fazer uma filosofia americana. Nesta filosofia articula autores continentais e anglo-saxónicos, mas sempre na linha das relações entre a filosofia e a arte, que sempre fizeram parte da tradição americana, onde Cavell entende que a filosofia surge sobretudo sob forma da literatura, como em Emerson e Thoreau. Para Cavell, as maiores criações do cinema, e aquelas a partir das quais deve ser feita a sua filosofia, são aquelas na qual o medium é profundamente revelado nas suas potencialidades; e estas condições não são apenas aquelas que o cinema moderno e o cinema experimental decidem fazer parte dos automatismos do medium, mas as que o cinema no seu todo revela do medium. Isto implica, num primeiro momento, levar tanto a sério um filme de Capra quanto um filme de Godard. Cavell assume o quão isto pode ser difícil, mesmo para si, e aos ataques sucessivos daqueles que reivindicam a impossibilidade de levar a sério os filmes que selecciona, Cavell responde de duas formas. Quando comenta a questão daquilo que uma leitura de um filmes deve fazer se quer contar como um acto sério de crítica, Cavell dá como uma das respostas, como veremos, que deve ter em conta que o filme é o que é, na ordem em que se segue, e que nenhum acontecimento do filme é mais importante, ou relevante, que o filme em si. Isto é, nenhuma das experimentações formais ou narrativas que é feita com o medium deve ser mais relevante, na determinação da importância do filme, do que o filme na sua totalidade e no impacto que provoca. A outra das respostas que dá é comentar a sua ideia de que “Hollywood é um lugar mítico, cuja função é, em parte, fazer com que as pessoas imaginem que o conhecem sem levarem as suas obras a sério, tal como a América”15. E se, mesmo assim, não se consegue levar tanto a sério Capra quanto Godard, Cavell arruma o assunto afirmando que nos filmes de Capra há frases de Thoreau - isto é dito com bastante humor, mas temos que, no fundo, confessar que não podemos argumentar nada que contraponha as críticas à arrogância da filosofia de Cavell, no sentido em que nunca deixa de haver a impressão que Cavell propõe uma solução única para todas as questões que coloca.
Referimos esta última resposta, e pouco interessante, de Cavell, e a questão do seu pretensiosismo, porque é sob o pretexto de responder a estas constantes acusações que Cavell escreve um dos seus textos mais importantes, e aquele em que dá uma resposta à questão de saber o que é para si a Filosofia. Em “The Thought of Movies”, Cavell diz que os problemas dos seus críticos surgem normalmente tanto por causa da relação que estabelece entre o cinema e a filosofia quanto pelo facto de dar grande importância ao cinema hollywoodiano. Cavell começa por dizer que encontra nos filmes alimento para o pensamento, que estes andam a par e passo com os filósofos que lhe são familiares, e que, num sentido que acredita fazer parte da cultura americana, acha o seu trabalho tão importante que acredita que é também importante para os outros. Refere-se sobretudo àquilo em que este amor pelo trabalho se articula com aquilo a que chama uma “prontidão para a palestra”, que é tipicamente americana: a falta do sentido de uma cultura comum e partilhada leva os americanos a darem palestras uns aos outros, em vez de estabelecerem diálogos. Mas acredita que é também americano o sentido de uma troca constante entre a cultura erudita e a cultura popular; e se os ataques à sua filosofia se prendem com a pretensão de que Hollywood e a filosofia têm intenções culturais totalmente opostas, então Cavell não tem nada a argumentar, pois esta é uma leitura totalmente contrária à sua filosofia. Mas dizer também que a filosofia e os filmes não têm uma fronteira, implicando para isso uma ideia de filosofia como uma disciplina menos especializada, que não pode ser apenas praticada por filósofos, não é também a resposta que procura. Aquilo que a filosofia é para Cavell, e aquilo que a liga ao cinema (tantas vezes referido como aquilo que pode trazer, ou ensinar a trazer, o ordinário de volta para a filosofia), “é a vontade de pensar em mais nada senão aquilo sobre o qual os seres humanos comuns pensam, é aprender a pensar conscientemente [undistractedly] sobre as coisas nas quais os seres humanos não conseguem deixar de pensar, ou que não conseguem evitar que lhes ocorra, às vezes na fantasia, às vezes como um flash que atravessa uma paisagem; coisas como, por exemplo, se podemos saber aquilo que o mundo é em si mesmo, ou se os outros conhecem a natureza das nossas próprias experiências, ou se bom e mau estão relacionados, ou se não podemos estar agora a sonhar que estamos acordados, ou se as tiranias modernas, as armas, os espaços, as velocidades e a arte estabelecem uma continuidade ou descontinuidade com o passado da raça humana, e se assim o conhecimento da raça humana não será irrelevante em relação aos problemas que trouxe para si mesma”.16 À vontade humana de colocar questões às quais não pode dar respostas satisfatórias, e ao desespero que é o reconhecimento dessa condição, a filosofia responde que pode não haver respostas mas há indicações para respostas, formas de pensar. Cavell duvida é que isto possa ser ensinado, pelo menos na forma como se ensina nas escolas ou universidades. Só terá valor se for descoberto na nossa própria experiência, e, para o que aqui nos diz respeito, os filmes têm um papel essencial na formação das possibilidades desse encontro.
Vamos retomar este assunto, sobretudo naquilo que diz respeito ao que deve ser uma crítica e uma filosofia do cinema, naquilo em que se distinguem e se articulam, mas para concluir gostaria de deixar apenas uma última nota em relação à abordagem de Cavell, ainda em relação aos filmes. Normalmente, a primeira coisa que os estudantes de cinema intuem é que têm que quebrar as barreiras emocionais e as suas ligações aos filmes se querem pensar seriamente sobre eles. Cavell, no seguimento da reivindicação da atenção distraída feita por Benjamin, vem precisamente dar importância ao nosso envolvimento emocional, dizer que devemos rejeitar todo o sentimentalismo se por sentimentalismo se entender que a arte é apenas entretenimento, como se o entretenimento fosse menos violento ou ganancioso que a pedagogia. No cinema a distinção entre arte erudita e arte de massas desaparece, e “Tomar os olhos do outro é a possibilidade de aprender algo de novo sem a ajuda da ciência; isto significa a possibilidade de, fora da ciência, de aprender alguma coisa”17. Cavell vem assim afirmar a sua gratidão, que deseja que seja também a nossa, em relação a essa “grande e ainda enigmática arte do cinema, cuja história é pontuada, como nenhuma outra, por obras, grandes e pequenas, que têm provocado a devoção de espectadores de todas as classes, de todas as idades, e de todos os lugares pelo mundo fora onde um projector tenha sido montado e um ecrã disposto”18. E tomá-la, desta forma, como objecto de estudo.
Fotogenesis e Metamorfose. O mote de “O que acontece às coisas no cinema?” surge em “Aquilo a que a fotografia chama pensamento” por estas palavras “O cinema propõe-nos uma relação artística insólita entre a presença e a ausência dos objectos”. Cavell conclui o texto dizendo que os objectos no cinema estão desde logo deslocalizados, trouvé, o que quer de facto dizer, de uma forma que continua o pensamento de The World Viewed, naquilo que alia cepticismo e cinema, que nós estamos já deslocalizados perante eles. A relação entre os objectos e as suas projecções filmadas é mediada pelo poder de transfiguração da câmara, o que é o mesmo que dizer que os objectos passam pelo processo de fotogenesis. Isto significa que “uma coisa se torna uma coisa”, assume uma forma, torna-se consciente, ou, em termos muito heideggerianos, vem à frente de uma determinada maneira. O cinema domina assim o aparecer das coisas. Os acontecimentos específicos da fotogenesis são, neste sentido, as aparências, as significâncias e as materializações (Cavell dirá mais à frente que estes só se articulam na fotogenesis geral dos filmes no seu conjunto, mas lá chegaremos mais tarde).
Antes de mais, podemos começar por dizer que “No que se tornam as coisas no cinema” serve para responder às questões da articulação (que parece, à primeira vista, antes uma desarticulação) entre o realismo e o cepticismo no pensamento de Cavell. Neste sentido, surge na continuação de “More of the World Viewed”, escrito ao mesmo tempo que este texto. A forma como Cavell resolve esta questão responde às inúmeras críticas que foram levantadas a respeito de The World Viewed, sobretudo no uso que Cavell fazia do realismo baziniano. Esta articulação apresenta duas ideias: em primeiro lugar, que as coisas originais e as suas projecções filmadas partilham da mesma “realidade ontológica”, ou melhor, que não adianta fundar uma ontologia baseada na sua diferença, ou na especificação da realidade de ambas, porque o cinema não representa, apresenta; e que depois de ultrapassar esta questão, as dúvidas têm de ser direccionadas para a nossa relação com as coisas (projectadas ou não). Cavell arruma o realismo, dizendo que temos de parar de tentar atribuir graus de realidade ao cinema e lembrarmo-nos de quão misteriosa é a nossa relação com as coisas projectadas, de tal forma que não compreendemos o processo nem o que a câmara fará de nós, para poder avançar com o cepticismo, como a ideia de que aquilo que o cinema nos pode ensinar, e é isso que podemos discutir, é que devemos questionar o nosso contentamento com a afirmação da realidade das coisas porque as vemos, que não devemos perder o lugar da dúvida mas agir com a sua consciência. E é também através desta ideia que o cinema traz não só o possível e necessário agravamento da condição céptica, como também a possibilidade da sua superação. Cavell esclarece esta questão na relação que estabelece entre Heidegger e Buster Keaton, Wittgenstein e Chaplin; para percebê-la, temos de fazer entrar em cena os dois primeiros tópicos deste comentário, articulando as questões da fotogenesis e da metamorfose com as questões da irrupção do fantástico no ordinário, do cepticismo, e da perturbação do acontecimento
Cavell inicia o texto com a questão de saber se aceitamos a ideia de que exista uma relação particular, ou um sistema particular de relações, entre as coisas e as suas projecções filmadas, entre os originais agora ausentes e os novos originais agora presentes: os originais ausentes porque são projectados; os novos originais que se tornam presentes pela fotogenesis. Cavell explica o conceito de fotogenesis de forma tão misteriosa (“uma relação para ser pensada como uma coisa que se torna uma coisa (como uma escavadora que se torna uma borboleta, ou um prisioneiro que se torna conde, ou uma emoção que se torna consciente, ou como depois de uma longa quando noite surge a luz)”) exactamente porque a sua importância reside no facto de não sabermos ou podermos dizer aquilo que ela é. Para Frampton (em Filmosophy), este tipo de definição vaga é um problema da filosofia de Cavell, uma falha no seu sistema, que surge sobretudo pela capacidade de dizer que o cinema nos mostra muitas coisas mas ser incapaz de conceptualizar este aparecimento. Contudo, apesar de nada poder argumentar em relação ao facto de a definição nunca ser dada de forma explícita, parece-me que a articulação que Cavell faz do conceito está perfeitamente de acordo com o lugar que a questão ocupa na sua filosofia. Vejamos: a fotogenesis tem uma violência originária que reside no poder transfigurativo da câmara; e nós não compreendemos este poder específico, o seu poder de metamorfose, e não podemos prever aquilo que a câmara vai fazer de nós (até aqui parece incontornavelmente benjaminiano: a câmara transforma-nos em corpos técnicos, sujeita-nos a um teste, mas a natureza do seu olho é diferente da natureza do nosso olho, é um olho também ele técnico – e rematamos com a ideia, também contrária ao que muitas vezes é apresentado como crítica, que Cavell está sempre a falar do medium sem falar nele). O conceito de fotogenesis implica em si o surgimento de um novo original, e este não encaixa no nosso conceito tradicional de representação, porque não é uma coisa que representa outra mas uma coisa que se transforma noutra. O cinema apresenta-nos uma extraordinária relação entre a presença e a ausência dos objectos – enquanto que a representação coloca o ênfase na identidade do seu sujeito, e por isso é uma semelhança, o cinema põe o ênfase na existência do seu sujeito, e por isso é uma transcrição ou transfiguração. Transcrição e transfiguração não são, é certo, a mesma coisa; mas Cavell, ainda em “Aquilo a que a fotografia chama o pensamento?” põe um fim surpreendente a uma questão que considera absurda: se o Idiota da Aldeia diz “a fotografia mente sempre”, vir apenas demonstrar que ela não mente, ou de que forma diz a verdade, apenas nos tornaria no Explicador da Aldeia. Defende que deve existir um propósito mais atractivo para colocar esta questão.
Cepticismo, Ordinário e Fantástico Chaplin e Wittgenstein. Assim, o propósito mais atractivo que Cavell encontra, e que vai ao encontro de The World Viewed, é perceber a nossa distância em relação ao mundo, o facto de lhe acedermos porque o “vemos por detrás do sujeito, como por detrás de uma câmara”. Se trabalhar as questões relacionadas com esta distância, nos textos de Cavell dedicados exclusivamente à filosofia, implica (entre outras coisas, é certo, mas esta é uma das preocupações centrais) trazer de novo o ordinário para a filosofia, aqui é esse o papel do cinema. Por isso, a questão torna-se a de saber porque é que os nossos sentidos se conformam com a realidade apenas porque a vemos, se não podemos, de uma forma ou outra, assegurar a sua existência. Estamos muito para além da simples apropriação que alguns autores a trabalhar sobre a filosofia do cinema, como Jarvie, por exemplo, fazem da Alegoria da Caverna de Platão. Aqui, parece que ninguém vai sair da sala de cinema (feita mundo real) para voltar e dizer como nos podemos libertar. Em Cavell, o cinema é uma imagem em movimento do cepticismo porque é exactamente o lugar para a dúvida que o cinema pode instaurar permanentemente, pode mostrar a necessidade da nossa capacidade para a loucura, o lugar necessário da alucinação, aquilo a que noutro texto Cavell chama “O Fantástico da Filosofia”. É podermos ter a ilusão do conhecimento e sabermos que este é uma ilusão.
Em “Something Out of the Ordinary”, Cavell fala na necessidade que a filosofia tem de transcender e purificar o discurso, o que acaba por privar o sujeito de uma voz que seja a sua própria fantasia de conhecimento. É por isso preciso devolver as palavras ao quotidiano (e é sobretudo aqui que reside o grande interesse de Cavell na filosofia de Austin, que foi seu professor e uma grande influência, e de Wittgenstein). Mas, para Cavell, é uma ideia pobre de fantasia aquela que a vê como uma realidade separada da vida ordinária; a inscrição do ordinário na filosofia (que, para aquilo que nos interessa, é feita pelo cinema) implica a inscrição do fantástico e da fantasia. O que Cavell retira do Wittgenstein das Investigações Filosóficas é, sobretudo, a necessidade de suportar e querer inscrever na nossa vida, o inevitável nível de loucura que assombra o acto de filosofar e a construção do mundo [“to bear up under, and take back home, the inevitable cracks or leaps of madness that haunt the act of philosophizing and haunt the construction of the world” (150)] – levar a loucura de volta para a nossa casa comum da linguagem e deixá-la irromper a cada dia, em cada lugar específico. Devolver o quotidiano à filosofia implica ter a capacidade de deixar que factos e fantasia se interpenetrem – estas parecem ser as duas questões que Cavell mais frequentemente levanta a respeito do cepticismo, e explicitamo-las aqui porque estão intimamente relacionadas com a análise que faz dos pares Chaplin/Wittgenstein e Keaton/Heidegger. O exemplo que Cavell apresenta das cenas de A Febre do Ouro de Chaplin abre para a articulação destas questões com o cinema. Cavell fala no “conhecimento” e “no mundo das coisas” de Chaplin. Estes são marcados pela capacidade de ver algo como outra coisa: por um lado, sapato assado como se fosse pão, por outro, pães como se fossem os instrumentos de um sapateado. O conceito de “ver como”, que é desenvolvido na parte II das Investigações Filosóficas, é relacionado com a capacidade de intimidade na compreensão, com a interioridade de sentido que atribuímos às palavras e aos gestos. Se a “mundaneidade do mundo anunciando-se a si mesma”, aquilo que veremos como essencial na relação entre Heidegger e Buster Keaton, não se revela ao pequeno homem que é Charlot, aquele que está demasiado dentro do mundo e demasiado fora dele, é a loucura da sua interpretação que o mantém são. Cavell diz noutro texto que a imaginação e a fantasia são responsáveis pelas loucuras da alma, mas sobretudo pela sua salvação. E a afirmação de que a fantasia não é entendida como um mundo à parte da realidade mas aquilo com que a realidade pode ser confundida tem, obviamente, implicações muito importantes na ideia de cinema e na sua relação com a projecção do desejo, como veremos adiante. Por enquanto, tomemos em conta o outro par, Buster Keaton e Martin Heidegger, uma vez que os dois pares se articulam, e que a compreensão deste vai tornar mais claras as questões às quais se procura aqui responder. Devo começar por repetir, antes de mais, que considero esta articulação entre Keaton e Heidegger um dos momentos chave da filosofia de Cavell, e por isso lhe será dada tanta importância. É aqui apresentada uma outra razão pela qual o cinema é uma imagem em movimento do cepticismo, pela qual nos apresenta o real mas nos permite também abrir espaços de libertação para questionar a nossa percepção de real. A ideia do possível heideggeriano e da “mundaneidade do mundo anunciando-se a si mesma” (o vir à frente, a aletheia prevertida da gestell) parecem estar totalmente desfasados da relação com o quotidiano e o fantástico que se apresentou anteriormente; contudo, fazem ambos parte de um binómio retomado, quase vinte anos depois, nas “Concluding Remarks on La Projection du Monde”. Este texto é várias vezes referido como um ponto de viragem na filosofia de Cavell, mas tendo em conta a sua articulação com “No que se tornam as coisas no cinema” encontramos já aqui grande parte das suas ideias. Creio que as “Concluding Remarks...” consistem num ponto de viragem se tivermos em conta que Cavell se desloca de uma ideia de totalidade, de Weltanschauung, do cinema enquanto máquina total que nos poderá levar a questionar o nosso acesso à realidade porque a vemos, para uma filosofia mais fragmentada, para uma ideia de cinema mais dispersa e complexa nas suas relações, mas mais interessante nas questões que coloca. Contudo, é necessário não esquecer que as ideia de weltanschauung e a ideia daquilo que pode perturbar a repetição não se opõem, completam-se.
Perturbar o Acontecimento Heidegger e Buster Keaton. Numa nota à edição francesa de The World Viewed19, na qual se debate com a dificuldade da tradução do título, Stanley Cavell afirma que o que esteve na base da ideia de O Mundo Visto foi o conceito heideggeriano de Weltanschauung. The World Viewed era assim a tentativa de implicar a noção de um mundo rematerializado e posto em movimento na sua totalidade, recriado na sua própria imagem, a que acederíamos pela visão. O cinema surgia assim, em primeiro lugar, como impondo as suas próprias condições de visão, ou revelação, e impondo a visão como a única forma de acedermos a um mundo com o qual já não estabelecíamos outra forma de ligação. Esta seria a nossa condição de relação com o mundo, que o cinema nos faria crer como natural. O perigo que Cavell encontra na invocação da Weltanschauung é o facto de sugerir que o cinema está condicionado por um conjunto de circunstâncias e conceitos conhecidos a priori pela experiência dos filmes e da História do Cinema.
Por sua vez, a utilização da palavra projecção (aquela que acabou por ser utilizada na edição francesa, que surgiu sob o título La Projection du Monde) implica a mudança das condições de existência dos filmes, avançando a ideia de uma intervenção do trabalho dos humanos e das máquinas na materialização e rematerialização do mundo. Levanta o perigo de poder sugerir a existência de processos psicológicos ou físicos que tivessem por resultado um conjunto de efeitos determinados à partida, mostrando a subjectividade da duplicação do mundo que é operada pelo cinema. Contudo, Cavell minimiza este risco pela invocação de duas ideias da projecção: a heideggeriana, que evoca o possível humano; a freudiana, que assinala a possibilidade do filme poder revelar qualquer coisa que não queríamos saber. Ambas afirmam a possibilidade de, na estruturação rígida (e, podemos adiantar, algo mecanicista) com que Cavell concebe a criação do artista e a recriação do mundo na sua própria imagem através da ideia de automatismo, poder ser aberto o espaço de libertação de algo de uma inquietante estranheza, que propulsa para o presente a potência do irresolvido e que permite interromper a estrutura de ilusão. Contudo, nunca podemos deixar de ter em conta que este é um caminho paralelo, e interligado, com a importância que esta estrutura da ilusão tem no pensamento de Cavell. Seguindo a mesma linha de pensamento de Benjamin, Cavell entende que é na distracção que o homem tem de saber exercer o seu pensamento crítico. Não estamos, assim, perante um tipo de pensamento semelhante aos dos autores do modernismo político, e da sua tentativa de subverter o ilusionismo do cinema clássico americano. Cavell entende, e nunca abandona esta ideia, que fantasia, ordinário e filosofia são conceitos que se interligam. O único tipo de mudança que pode ser aqui evidenciado é em relação a uma espécie de fé no homem, e na sua capacidade de levar o cepticismo para a sua vida quotidiana. É nesse sentido que aquilo que perturba o acontecimento pode fazer repensar o envolvimento na ilusão, e a vontade de nos relacionarmos com o mundo de outra forma. Não é apenas isto que está em causa, como veremos, porque a ideia da disrupção implica também dizer que temos de nos lembrar da artificialidade do que está à nossa frente, e com o qual nos relacionamos como se fosse real; mas quis fazer este desvio apenas para salvaguardar a importância que Cavell parece colocar na atenção distraída, e na forma como esta não deixa de ser crítica.
Começamos, assim, por fazer o comentário destas duas questões (das ideias de Weltanschauung e Projecção tal como Cavell as afirma, dos problemas que colocam e das concepções de projecção que apresenta como solução), a partir do questionamento da abertura que a ideia de automatismo parece poder desde logo implicar, e que é manifesta tanto na forma como Cavell a pensa em relação às artes antes e depois da sua reprodução técnica (a pintura modernista, por um lado, o cinema e a fotografia, por outro). Compreender o alcance que pode ter a ideia de automatismo (cujas linhas gerais foram apresentadas nas Teses Essenciais) no pensamento de Cavell é crucial para perceber a importância que uma releitura actual do seu pensamento pode ter, à luz da importância da teoria do cinema para os novos media. Aquilo que nos guia é a tentativa de pensar de que forma está contida na ideia de automatismo a possibilidade pela qual o mundo pode continuar a resistir às nossas apropriações: mesmo numa estrutura circular na qual a libertação do objecto serviria, por um lado, à sua apropriação posterior, uma vez que a criação é estruturada numa castradora dialéctica permanente de repetição/diferença, entre as convenções e a abertura de possibilidades que se estruturam posteriormente em novas convenções, há algo que escapa ao controlo, ou à ilusão de que detemos o controlo sobre as imagens, que resiste à nossa imposição de formas e estruturas rígidas de organização do real, e que vem precisamente tornar inquietante a relação que assumimos como natural (ou, segundo Cavell, que o cinema, culminando num longo processo que envolve todas as artes e o desejo de ter uma imagem total do mundo que pudéssemos controlar, teria imposto como natural).
A importância de questionar hoje a forma como estas ideias se estruturam, e a alteração que é feita na adopção dos conceitos, reside no facto de tal caminho corresponder à perda de uma certa ingenuidade em relação às artes que assentam na reprodução técnica (para a qual Benjamin teria já alertado, na sua defesa de se ter de abandonar a estética como teoria da arte, e na proposta da tecno-estética que está implícita no texto sobre a obra de arte). É como se Cavell, num primeiro momento, ainda se agarrasse a uma teoria estética (entendida aqui a estética também não como uma teoria da arte mas na sua relação com a moral) em relação ao cinema, sem nunca porém perder de vista que este estaria a produzir um controlo da visão e uma rigidificação sem limites, mas crendo ainda porém numa teoria relacional na arte na qual estava implicada uma pedagogia - era porque o espectador via assim o mundo no cinema que podia aprender que era essa a sua condição de relação com o mundo em si, e perceber assim a estranheza da ligação que estabelece. Num segundo momento, que surge já neste texto, “No que se tornam as coisas no cinema”, mas que é explicitamente assumido e revindicado na nota à edição francesa, mais de vinte anos depois da primeira publicação de The World Viewed, é como se Cavell tivesse ganho consciência que, no regime em que as imagens agora se estruturam, e da forma como a nossa visão surge controlada, o papel do cinema tem de ser outro – aquilo que perturba o acontecimento tem de ser levado para a nossa vida quotidiana e tem de ser possibilitada a sua irrupção permanente. Pensar estas questões implica pensar a urgência de tornar visível a estrutura e a forma como podem ser criados espaços de libertação que perturbem a ilusão de que detemos o controlo.
O mundo recriado na sua própria imagem ao qual acedemos pela visão parece aqui acontecer por si, autónomo, finalizado. No final de The World Viewed pode ler-se “Um mundo completo sem mim que está presente para mim é o mundo da minha imortalidade. Esta é a importância do cinema – e o seu perigo”.
Ambas as objecções que Cavell levanta, tanto à ideia de weltanschauung como à ideia de projecção remetem para o facto de ter de estar implicado em ambas que a reprodução do mundo não admite um controlo total por parte do sujeito. Enquanto que na ideia do cinema como um mundo visto, adoptando o conceito de weltanschauung, a recriação do mundo na sua própria imagem parece acontecer por si, autónoma, Cavell assume depois a ideia de projecção exactamente para implicar que existe um trabalho dos humanos e das máquinas na materialização e rematerialização do mundo (sem porém nunca deixar de repetir que não há subjectividade na reprodução do mundo). A ideia de projecção altera assim as condições de existência do cinema, colocando a responsabilidade da acção dos homens e das máquinas no seu centro. Porém, implicar desta forma a subjectividade poderia pressupor a ideia de que a estrutura não escapa ao nosso controlo. Cavell afirma que a ideia de projecção assume o perigo de se pressupor que existem processos físicos e psicológicos que resultam num óbvio conjunto de efeitos que mostram a subjectividade da duplicação que o cinema faz do mundo, e é por isso que convoca as duas ideias de projecção que começámos por referir, a heideggeriana e a freudiana20.
A ideia heideggeriana de projecção convoca a ideia da possibilidade humana, do possível humano, naquilo em que no cinema se revelam (numa estrutura de desocultamento que não controlamos porque somos o seu próprio material, e é nesta relação que se revela o quanto está fora das nossas mãos) as capacidades por realizar dos homens e do mundo. Embora Heidegger influencie toda a concepção que Cavell tem da técnica, este não vai ao ponto de pensar a desmaterialização total e global como o resultado da nossa perda de ligação ao mundo, mas antes o que pode haver de descontrolador na rematerialização feita pelos media, e que pode assim perturbar as tentativas restauradoras da ordem (e as restauracionistas que tentamos impor à arte).
“Nem tudo é possível a cada momento, mas nada que seja possível num determinado momento pode ser conhecido antes da sua materialização”. Dir-se- ia agora que nem tudo é possível em cada momento, mas nada possível pode ser conhecido antes da sua re-materialização. O cinema tem a capacidade de fazer a tenebrosa revelação das possibilidades irrealizadas dos homens e do mundo. E, desta forma, o medium sai do controlo dos seus fazedores, revela algo que não corresponderia às suas intenções; e na sua revelação, perturba a nossa ilusão. Para mostrar de que forma esta ideia se manifesta, Cavell recorre ao exemplo que Benjamin sugere n’ “A Obra de Arte”, onde o comentário ao Rato Mickey pretende mostrar que o riso dos espectadores é uma espécie de auto-protecção homeopática contra as potencialidades psicóticas da tecnologia moderna21.
Ligando o comentário de Benjamin ao filme de Preston Sturges Sullivan’s Travels, onde se vê uma audiência de condenados, acorrentados, a assistir a um filme do rato Mickey, Cavell avança, em primeiro lugar, para a ideia contrária de que num mundo negro e em tempos negros, a resposta que Hollywood oferece ao sofrimento social é o riso. Pode-se começar por dizer que em confronto com caras brutalizadas, os desenhos animados são também eles brutais, mas não é esta a resposta que Cavell procura. Centra-se exactamente no riso como perturbador da estrutura, e revelador da capacidade que o filme tem de revelar brutalmente as nossas necessidades desnecessárias, chamemos-lhes as nossas possibilidades por realizar. Levanta a questão de saber como a história, a arte e a técnica condicionam o filme, e de como este sai do controlo daquele que o cria. Que possamos percebê-lo implica desde logo uma falha na estrutura, ou antes a revelação de que não detemos o controlo de que temos a ilusão. A técnica moderna utiliza um mecanismo repetitivo operando assim um desocultamento dos processos que fazem vir ao real o possível, que fazem vir ao visível o invisível, e a ideia de que temos a ilusão de que esse desvelamento forçado é autónomo mas controlado. Mas é quando percebemos que é assim revelado algo que não prevíamos, e que não queríamos saber, que podemos tomar consciência da nossa condição também enquanto material para o processo. Em “No que se tornam as coisas no cinema?”, Cavell dá, assim, um exemplo onde esta ideia está manifestamente no centro das suas preocupações. O estar- aí heideggeriano, o dasein, é tornado visível22 no terceiro capítulo de Ser e Tempo pela implicação da nossa capacidade de empreender certas formas de trabalho, utilizando ferramentas específicas num espaço determinado por essas ferramentas (a que Heidegger chama o mundo-trabalho, “work-world”). É na perturbação ou disrupção de tais actividades – porque uma ferramenta se parte ou há um material que falta – que a percepção ou absorção que estas actividades requerem é perturbada, e é assim que surge uma forma particular de percepção. O que esta consciência que subsiste revela é a sua pertença à mundaneidade do mundo – isto é, torna presente que a primeira absorção era já direccionada a uma totalidade na qual o mundo se revela a si próprio. Heidegger caracteriza este tipo de percepção como um modo de visão que nos permite ver as coisas na sua conspicuidade, obtrusividade e obstinação. Cavell liga a esta ideia de Heidegger os filmes de Buster Keaton para tornar evidente qual o papel do cinema nesta formulação. Keaton é o personagem em cuja absorção e em cujo olhar podemos assim notar a mundaneidade do mundo que se anuncia a si própria. Quando nos rimos num filme de Keaton este riso não é definido pela sugestão bergsoniana do homem-máquina. Temos antes de lidar aqui com algo relacionado com a capacidade humana de olhar, de perceber, de estarmos condenados a projectar e a habitar um mundo que vai para além dos nossos sentidos. Keaton, em The General, exemplifica a aceitação da enormidade desta compreensão da limitação humana, sem negar porém nem o abismo nem a possibilidade de continuar a viver. É a loucura que o permite manter são. Keaton incorpora tanto a necessidade de termos a consciência alerta num mundo incerto quanto os limites necessários da nossa consciência. A convocação da ideia freudiana de unheimlich (o estranho familiar, ou o familiar de uma inquietante estranheza) permite complexificar a ideia que se acaba de apresentar, e surge para confrontar a concepção de que exista controlo subjectivo da duplicação, ou rematerialização, do mundo que é operada pelo cinema. Se em Heidegger o acontecimento é perturbado quando vem à frente qualquer coisa que teria permanecido oculta, e é isso que perturba a estrutura da ilusão, Freud procura explicar a mecânica da compulsão para a repetição inserindo o unheimlich como aquilo que emerge quando o descontrolo primitivo retorna. O problema não é a irrupção do não-familiar, mas na repetição do normal e do familiar.
A psicanálise surgiu para teorizar uma série de procedimentos automáticos que desde sempre se teriam alojado na nossa cultura. Freud procurou saber que automatismos, que instâncias da repetição, determinam comportamentos individuais que se crêem livres. O unheimlich é exactamente o espaço onde se joga o desejo e a memória, a instância maquínica da repetição comportamental que resultou de anos de adestramento do indivíduo e de codificação do mundo. Mas o problema do freudismo reside no facto de ser impossível reduzir o unheimlich ao complexo edipiano. Freud está convencido que é sempre possível decifrar o unheimlich, mas as artes baralham a nossa relação entre o real e a fantasia, e é aí que reside o seu efeito sobre nós. Para esta discussão, e como mostra Cavell, o cinema tem um papel primordial.
A justaposição entre realidades provoca no espectador momentos de uncanny disorientation. “O cinema tem a capacidade de materializar e satisfazer (e assim de desmaterializar e perverter) os desejos humanos que escapam à satisfação do mundo tal qual é”23. Ser humano é desejar uma identidade completa, tal desejo pode implicar a projecção de um mundo completo e completamente oposto ao mundo que partilhamos com os outros. O uncanny é um misto de terror e de prazer, e essa é a economia da afecção, que se torna dependente dos nossos desejos inconfessados. Mas “é uma ideia pobre de fantasia aquela que a toma como um mundo fora da realidade, um mundo que mostra claramente a sua irrealidade. A fantasia é precisamente aquilo com que a realidade pode ser confundida.”24.
No mais rigidificado ou conceptualizado há sempre algo que escapa ao nosso controlo e às nossas apropriações – esta é uma ideia importante para Cavell, seja no cinema ou na filosofia. Em “The Fantastic of Philosophy”25 Cavell afirma que a visão do unheimlich é essencial para a filosofia e defende que é necessário suportar e levar para casa a loucura que assalta o acto de filosofar e assombra a construção do mundo. Analisando precisamente o texto de Freud “Das Unheimlich”, salienta que a limitação do pensamento freudiano é não ter assimilado na sua teorização que o unheimlich não se limita ao complexo edipiano. Cavell diz que, em ver do medo de perder os olhos, olhar pelos olhos uns dos outros poderia ser a forma de arranjar uma solução para o problema céptico do reconhecimento da existência dos outros26. Libertar-nos-íamos assim do narcisismo primário porque poderíamos tomar os olhos dos outros. A violência desta imagem adverte-nos para rejeitarmos todo o sentimentalismo (o sentimentalismo, segundo Cavell, seria dizer que a arte é apenas entretenimento, como se o entretenimento seria menos violento ou ganancioso que a pedagogia): “Tomar os olhos do outro é a possibilidade de aprender algo de novo sem a ajuda da ciência; isto significa a possibilidade de, fora da ciência, de aprender alguma coisa”27. No cinema a distinção entre arte erudita e arte de massas desaparece; e os filmes têm um poder perfeito de justapor a fantasia e a realidade, de mostrar a sua alternância exactamente como se fosse natural. No cinema, o mundo do facto inflexível e o mundo do desejo satisfeito parecem o mesmo, justapõem-se, sem pistas cinematográficas que nos ajudem a demarcar um do outro, criando nos seus espectadores momentos de desassossegante desorientação (uncanny disorientation). A experiência do cinema perturba a questão de ainda sermos capazes de hesitar entre o empírico e o sobrenatural; e a capacidade de deixar os factos e a fantasia interpretarem-se um ao outro é a base tanto dos males da alma quanto da sua cura28. Nós vamos ao cinema para sentir o unheimlich sem desvendá-lo. A nossa tentativa de mobilização está sempre presente, e a dissolução do unheimlich parece ser impossível. O nosso desejo não flui livremente, é sempre trabalhado por uma imagem, essa instância fantasmática que representa uma projecção mnemónica de toda a nossa cultura. “A memória, que nos devia preservar, devora-nos”29. Os automatismos do cinema e da fotografia implicaram que, de repente, o espaço da vida ficasse povoado por seres inquietantes que assediavam o sujeito racional moderno, e as relações racionais que os indivíduos estabeleciam entre si eram assoladas por relações perigosas. E as novas máquinas revelaram que eram capazes de usar o que havia de perturbante nessa generalização de um fascínio e reencantamento inesperados. Se não podemos desviar a nossa atenção da articulação luz/sombra, porque o pensamento crítico parece precisar sempre de um sítio para o qual se dirigir, então talvez seja necessário criar as condições para a sua perturbação permanente. Parece que estamos a voltar muito atrás, mas a verdade é que é quando a imagem única colapsa, se desincorpora do real, que há uma separação entre matéria e forma, e os objectos e imagens ficam em estado de dispersão. As máquinas trabalham exactamente essa relação entre o visível e o invisível, vão reconfigurar o real, trabalhar a percepção, tornar plástica a matéria. Se o destino dos corpos é a sua fragmentação e transmissão pelos media, a obra de arte tem obrigação de intervir no real. Mas naquilo que parece uma estrutura da intervenção da arte que se divide entre a ideia de que a arte rigidifica ou real, ou que a arte o dinamita permanentemente, há outra ideia, que não se baseia nesta distinção, e que não se funda na ideia de que exista uma autoria do aspecto ou que se possa pôr para já um fim ao sistema de projecção (porque é talvez nesse sistema de projecção que se constrói permanentemente essa obra de arte total e sem autor que pensou Benjamin). Como se disse, pode ser difícil basear o pensamento crítico no fim de uma estrutura que aponte para um fim possível da projecção e da ilusão; então talvez seja necessário fundá-lo numa estrutura em que se intensifica o retorno de qualquer coisa que irrompe subitamente e perturba o acontecimento, que parece vir de lado nenhum e de todo o lado, que interrompe essa estrutura de ilusão e que afirma outra vez que o mundo resiste às nossas apropriações, ao nosso parcelamento geo-político, que só pode ser tido em comum, e que a natureza, por mais que tentemos, irrompe sempre como perturbadora e inquietante. No circulo construído, em que Cavell estruturou também a criação artística, aquilo que irrompe e perturba vem do irresolvido, como aquilo que resiste às nossas decisões históricas. E se não podemos (nem queremos) destruir o círculo, então é necessário tornar visível a estrutura e potenciar o retorno permanente daquilo que perturba o acontecimento e lhe cria fissuras.
Cinema, Crítica e Filosofia. Considero que é importante uma tão extensa análise das ideias presentes nas “Concluding Remarks” porque se trata, na verdade, de uma das ideias de Cavell que mais importância tem para analisar as questões relacionadas com os novos media e com a imagem digital. O facto de surgirem desde logo em “No que se tornam as coisas no cinema”, através da relação entre Heidegger e Keaton, permite contrariar uma certa ideia que domina em relação a Cavell: uma série de críticos afirmam que Cavell vive alheado de uma ideia de cinema que não encaixe no cinema clássico, que ignora totalmente todo o desconstruccionismo, que vive completamente no passado de uma filosofia romântica, e que a sua filosofia do cinema não tem qualquer utilidade para pensar o espaço do cinema povoado pelos novos media. O facto de Cavell estar a pensar a multiplicação das imagens e a sua imposição de condições de visão, e isto logo desde muito cedo, como é o caso deste texto, torna incontornável a ideia de que há na filosofia de Cavell muito a dizer sobre o actual dispositivo, ou sistema, de imagens.
Logo antes da introdução deste texto, quando esboçámos as linhas essências da pedagogia, começámos por dizer que Cavell se referia a estas relações entre Heidegger e Keaton, Wittgenstein e Chaplin, no Appendix to Pursuits of Happiness: Film in the University, no sentido de levantar a questão de qual deveria ser a relação entre o cinema e a filosofia. Para além do ordinário e do fantástico que o cinema permite trazer para a filosofia, que viemos de abordar como questões específicas, Cavell defende, de uma forma mais geral, que o cinema e a filosofia não se articulam como ilustrações um do outro, mas naquilo que podem ter a dizer um sobre o outro, na forma como têm ambos a ganhar dessa relação. Em primeiro lugar, refere as relações entre Heidegger e Wittgenstein: ambos são filósofos herdeiros de Kant, sobretudo naquilo que diz respeito à sua interpretação do cepticismo; e ambos sustentam uma preocupação fundamental com o conceito da vida comum, e com a reivindicação de um retorno do pensamento humano. Cavell diz que esta preocupação comum pode ser exprimida como uma nostalgia pelo presente; mas é esta nostalgia pelo presente que Cavell entende que o filme, enquanto materialização, ultrapassa automaticamente. Esta é então a primeira conclusão que podemos retirar da sua articulação: cinema e filosofia seriam, em princípio, incapazes de pensar da mesma forma. Mas Cavell diz que foi dada significância a esta condição da nostalgia filosófica em filmes individuais, e é aqui que faz entrar Chaplin e Keaton. E entende que isto legitima tanto o estudo destas questões no cinema tanto quanto na filosofia. Eles não se ilustram, articulam-se, apesar de Cavell estar consciente que uma relação entre Heidegger e Keaton não implica, obrigatoriamente, que se articule extensivamente Heidegger e Keaton e que, de certa forma, um determinado sentido da ilustração acaba por ser, em determinada medida, inevitável, conclui que para haver ilustração era preciso saber o que faz de Keaton Keaton, o que implica saber o que faz do cinema cinema; e saber do que faz Heidegger Heidegger, o que implica saber o que faz da filosofia filosofia. É por não acreditar que haja alguém que possa saber tudo isto, e por acreditar que pode assim haver um sentido que os una, e que podem promover um estudo e discussão que sejam unificados, que Cavell não abandona esta ideia. O que revela sobre o cinema e a filosofia esta forma de emparelhá-los nas duplas Heidegger/Keaton e Wittgenstein/Chaplin? Voltamos à frase que já aqui repetimos: “Tomar os olhos um do outro é a possibilidade, fora da ciência, que temos para aprender alguma coisa”30. Apesar de, em Chaplin e Keaton, Cavell trabalhar dois modos de ver distintos, estes têm um propósito comum. São duas formas diferentes de revelar o cepticismo que está a comentar, e de o ligar às questões da ética e da moral, que veremos adiante. Cavell diz que tanto Chaplin como Keaton fazem comédia a partir do facto de o sujeito humano estar destinado a perseguir a felicidade, e mostram que tal sujeito é, sob determinadas circunstâncias, capaz de atingir a felicidade. As condições que Keaton exprime para tal são as da coragem, da temperança, da sabedoria; as de Chaplin a imaginação. O que Chaplin e Keaton revelam, deste modo, é a vontade de não desistir do caminho que percorrem, por mais reviravoltas e passos em falso que sejam dados. E é esta vontade que os coloca, em termos do pensamento cavelliano, no sentido do “unattained but attainable self” ao qual Emerson se refere, e que teremos em conta na sua relação com a ética. Cavell desenvolve, em “No que se tornam as coisas no cinema?” e “Aquilo a que a fotografia chama o pensamento” as diferenças e articulações entre a crítica e a teoria (ou a filosofia) como formas de pensar o cinema. A crítica é uma experiência subjectiva, no sentido em que articula os filmes, ou momentos, que são significantes para nós, e a teoria do cinema (no sentido de uma filosofia do cinema) articula as questões que são levantadas pela “fotogenesis geral do conjunto dos filmes”, as questões do cinema que encontram expressão no conjunto dos filmes individuais. A questão que começou por colocar, “No que se tornam as coisas no cinema?”, é assim a ideia que acaba por permitir avançar com duas ideias daquilo que deve ser a crítica e daquilo que deve ser a filosofia. No fundo, aquilo que há a dizer sobre o medium não pode ser pensado a não ser através da significância dos filmes individuais, a diferença é a forma como estes são articulados, e o lugar de cada um na teoria e na crítica. Os filmes significantes são, para Cavell, aqueles que revelam as potencialidades do medium. É isto que debate na segunda parte do texto, de forma a poder avançar uma ideia daquilo que deve ser a crítica. Cavell diz que a crítica deve exprimir e articular o significado da aparição e significância dos objectos e pessoas que surgem nos filmes que são importantes para nós. Assim, naquilo que diz respeito ao seu entendimento, a importância do filme não é independente da importância que assumem para nós. É este o momento mais importante da discussão que temos vindo a ter aqui. Cavell avança uma ideia de estética relacional que parece definir à partida aquilo que a crítica pode ser. Quando discute a questão de saber se os filmes de Hollywood podem estar no mesmo plano de seriedade que o cinema experimental, Cavell recupera uma ideia de estética não como uma teoria da arte mas na sua relação com a experiência da obra: nada pode provar que os filmes são importantes senão o valor que descobrimos na nossa experiência pessoal, nada senão os detalhes do nosso encontro com obras específicas. A tarefa da crítica está aberta a todos, e deve ser feita por todos; implica que estabeleçamos um diálogo uns com os outros, que é uma forma de nos ligarmos ao mundo. Cavell, em The Thought of Film, diz que a possibilidade de reconhecer esta possibilidade está presente em todas as artes, mas o cinema como que democratiza este conhecimento: a percepção e a compreensão da poética do cinema está aberta a todos, e assim a incapacidade de compreender o assunto só pode ser da nossa responsabilidade; como se a falha em perceber o invisível a partir do visível, ou em traçar a implicação das coisas, ou a percepção de que deve haver algo a ser traçado, esteja certo ou errado, requeira que nos amaldiçoemos e estupidifiquemos a nos próprios. Amaldiçoamo-nos e estupidificamos cada vez que empreendemos um acto de crítica que falha em reconhecer a poética do assunto do filme que analisamos. A poética do cinema implica que cada filme se aproprie do medium da forma que melhor serve o seu assunto e melhor exprime as suas potencialidades, e é isso que cada acto de crítica deve ter em conta. Cavell está claramente a afastar-se de uma análise formal dos filmes e a propor outra coisa, algo que se aproxime da ideia subjacente ao pensamento de Cavell quando diz que “aquilo que estabelece uma obra de arte é a sua habilidade a inspirar e sustentar um certo tipo de crítica, uma crítica que tenciona articular a ideia da obra”31. Cavell está a delinear o que é este tipo de crítica, e a sustentar o que deve ser o seu lugar numa filosofia do cinema, quando, no texto, afirma - depois de advertir que nenhuma descoberta técnica sustenta uma descoberta artística, e vice-versa, e que nenhum processo em particular que seja utilizado num determinado trabalho pode ter mais relevância artística que a obra em si, na sua maioria -, que em Belle de Jour o cinema encontra o seu assunto natural (vamos desenvolver esta questão na articulação da crítica com a filosofia). Encontrar uma resposta para aquilo em que se tornam as coisas no cinema implica assim, no acto da crítica, ter em conta a aparição e a significância das coisas que são importantes para nós. Articular estas questões com as questões gerais daquilo que é o cinema, da fotogenesis geral dos filmes, é passar para o domínio da filosofia. “Aquilo a que a fotografia chama pensamento” retoma estas questões para desenvolver as relações entre a crítica e a filosofia, indicando, em primeiro lugar, que são ambas indispensáveis uma à outra. Por um lado,”as condições do poder estético do cinema, como o exercício de qualquer poder humano, não podem ser conhecidas antes de ter lugar um certo criticismo, ou crítica, desse poder, e uma convicção na arquitectónica da crítica – a satisfação com o posicionamento de conceitos numa estrutura de importância – não é tida sem ter em conta a sua aplicação em casos individuais. As ciências chamam-lhe experimentação, as humanidades chamam-lhe crítica. (...) O que organiza ou anima os resultados da crítica é o discurso filosófico”. Voltam a ligar-se na frase final: um leitor crítico não pode deixar para os outros ou derivar a filosofia que invoca, porque ou essa filosofia é derivada por tal crítica em cada acto de criticismo, ou então está inanimada, morta, à disposição da moda. Filosofia e crítica têm assim aproximações e objectivos diferentes, mas não são, na forma como Cavell as concebe, actividades distintas.
O que Belle de Jour encontra como assunto que é natural ao medium cinematográfico, e que tem em comum com Persona, é o sentido, ou limites, ou condições, da identidade feminina, e assim da identidade humana. O cinema alterna entre planos de realidade, fantasia e realidade estão justapostas, como no mundo, e lida assim com as questões da identidade do sujeito, com a questão de tentar saber quem somos. O cinema tem a capacidade de materializar e satisfazer, e assim de desmaterializar e distorcer, os desejos humanos que escapam à satisfação do mundo real. Nós projectamos os nossos desejos no ecrã e, tal como os personagens de que aqui se fala, procuramos lá também a nossa identidade. Cavell conclui dizendo que o assunto do cinema, que estes filmes exprimem, e que temos, no mesmo movimento, de identificar na crítica e trabalhar na filosofia, é a identificação com a região feminina do ser, comum a todos os homens.
Identidade Feminina e Romance Shakespeariano Da Ontologia à Ética. A ontologia do cinema que Cavell propõe articula-se assim com as questões da identidade humana. Mas os livros de Cavell não são estudos de filmes mas obras filosóficas, onde o cinema é entendido naquilo em que expressa as nossas formas de estarmos e de nos relacionarmos com o mundo. D. N. Rodowick, num importante ensaio intitulado “An Elegy for Theory”, onde, na parte final, articula as questões da ética nas filosofias de Cavell e Deleuze, indica que a pergunta chave de “Aquilo a que a fotografia chama o pensamento” é saber o que significa dizer que as imagens pensam, ou respondem a problemas filosóficos de uma determinada maneira, que lhes é própria. Afirma, pertinentemente, que na primeira parte da filosofia de Cavell as respostas são epistemológicas e ontológicas; apesar disso, esta ontologia não diz respeito ao medium mas aos nossos modos de existência, ou formas de estar no mundo, na sua articulação com o cepticismo. Mas é nas obras que se seguem a The World Viewed que a temporalidade desta condição epistemológica - do cepticismo da possibilidade da sua superação que o cinema veicula, da questão céptica como presente e passado, como atitude a reivindicar e já ultrapassada - , é reconsiderada como uma questão da arte e da avaliação ética, tomando como conceito chave a ideia de perfeccionismo moral, como “expressão não- teleológica de um desejo de mudança ou de transformação” 32.
Rodowick afirma, no mesmo texto, que este caminho das questões ontológicas às questões éticas é exemplo da forma como Cavell usa o cinema para aprofundar a sua descrição da condição subjectiva da modernidade como suspensa entre um domínio epistemológico e um domínio moral. A forma como esta questão é articulada em “No que se tornam as coisas no cinema?” permite aprofundar esta ideia. Já vimos que o cinema traz o ordinário para a filosofia, mas tenhamos agora em conta de que forma a expressão dramática quotidiana é transposta para o domínio moral. O recasamento é a expressão da vontade de voltar a estabelecer uma relação com o mundo e com os outros, e o reconhecimento que é necessário empreender um processo de educação que implicará a vontade de reconhecer que para querer a repetição é preciso passar por um processo de transformação, ou metamorfose, como lhe temos vindo a chamar, onde se aprenderá a melhor forma de lidar com o mundo e o outro, sem lhes renunciar. No texto, Cavell diz que “Ser humano é ter, ou arriscar-se a ter, esta capacidade de desejar; ser humano é desejar, e em particular desejar uma identidade mais completa que aquela que até agora alcançámos; e que tal desejo pode projectar um mundo completo, por oposição ao mundo que agora partilhamos com os outros: esta é uma forma de entender a causa pela qual luta o romance shakespeariano”. Tanto no cepticismo como no romance, diz Cavell, deve-se abdicar do conhecimento, enquanto a consciência no seu todo, para que uma melhor consciência possa surgir. O mundos justapostos da realidade e da fantasia são o terreno para tal reconhecimento, que permita avançar para a transformação.
Dissemos na introdução que este texto liga o pensamento de Cavell a Pursuits of Happiness porque será nesta obra que Cavell vai desenvolver esta questão da identidade feminina, e da sua articulação com o romance shakespeariano, através do estudo da comédia do recasamento. O que interessa a Cavell em Shakespeare é a violência da sua problemática do casamento, a violência da sua criação e do seu decreto, que se relaciona com as comédias de recasamento porque nelas a vontade de continuar casado não é legitimada institucionalmente mas pela vontade do par em se escolher um ao outro outra vez; como se a possibilidade da felicidade só existisse numa segunda repetição. Se na comédia clássica aqueles que são feitos um para o outro se encontram, na comédia de recasamento aqueles que se encontraram um ao outro descobrem que são feitos um para o outro.
Cavell afirma, em “Aquilo a que a fotografia chama o pensamento”, que a vontade para a repetição exprime o sentimento da mulher de que ainda sente necessidade da criação. Esta vontade de criação liga-a ao homem, ao mundo, ao sentido da criação primordial mas, sobretudo neste caso, à transfiguração imposta sobre mulheres de carne e osso pelo poder de fotogenesis da máquina de filmar. O horror e a violência da criação da mulher em imagem técnica feita pela câmara é aquilo que leva Cavell a falar dos somatogramas, na metamorfose que a técnica opera sobre os corpos, que é garante da sua morte e da sua imortalidade. É assim que ligamos a questão da transformação ao poder de fotogenesis da câmara e, por outro caminho, a ética à ontologia. Cavell afirma que “Ao contrário da prosa do teatro cómico que se seguiu a Shakespeare, o cinema é naturalmente equivalente do medium da poesia dramática de Shakespeare. Penso nela como a poética do cinema em si, que é o que acontece às figuras, objectos e lugares quando são moldados e deslocalizados por uma câmara de filmar, e depois projectados e apresentados num ecrã”33. Cavell diz que é como se o cinema, muitos séculos depois, descobrisse outro palco para a estrutura shakespeariana. As comédias do recasamento e o romance shakespeariano partilham uma série de características que tornam inegáveis os seus laços: é a mulher, em vez do homem, que resolve a história, e que passa por algo como a morte e uma transformação; tem um entendimento especial com o seu pai; o par central não é novo, e por isso a questão da castidade ou da inocência não está presente; a história complica-se numa cidade mas depois passa para o campo – em Shakespeare, diz Cavell, o campo é o “green world” ou “golden world”; nestas comédias chama-se Connecticut. Mas os personagens do recasamento e de Shakespeare ligam-se sobretudo pela busca da felicidade - a “pursuit of happiness” que é tão importante na obra de Cavell. As mulheres reconhecem que têm que perder o seu estatuto de deusa para se transformarem num ser humano, mas o que os filmes mostram é a igualdade entre homens, a busca simultânea da sua independência um do outro e da sua dependência como casal. Precisam de reconhecer as suas diferenças e de criar a sua própria linguagem, aquela que permite que se entendam. A transformação do sujeito culmina na criação de uma nova mulher, que reafirma a vontade de se casar com o mundo no desejo de se voltar a ligar aos outros. Comparar a frase de Katherine Hepburn no final de The Philadelphia Story “I think men are wonderful!” com a de Miranda em A Tempestade “How beauteous mankind is!” 34, permite perceber em que termina esta busca pela felicidade. Os dilemas morais na filosofia de Cavell não se exprimem sob a forma de questões que reconhecemos como morais (como a pena de morte, ou o aborto, temas de outros filmes que Cavell cita), mas com a possibilidade de ultrapassar um certo cinismo moral, pela vontade de querer uma vida mais coerente e admirável que aquela que parece possível quando se passa à idade adulta, e os sonhos se desfazem no confronto entre o privado e o público. Não se trata aqui de discutir o que as personagens devem fazer mas como podem viver as suas vidas, transformá-las e reorientá-las. “To thine own self be true”, diz Hamlet a Polónio.
A ideia do casamento é importante porque, diz Cavell no prefácio a Cities of Words, afasta a filosofia moral do pensamento elitista ao qual normalmente está associada e coloca-a no domínio comum e quotidiano. Em primeiro lugar, a ideia de casamento tem servido, por exemplo na filosofia de Aristóteles, como uma alegoria da amizade e das relações pessoais. Em segundo, porque lhe permite desenvolver a ideia de que a vida moral não é constituída apenas pela consideração de julgamentos isolados, ou de problemas morais e políticos institucionalmente constituídos como tal, mas na sua relação com uma vida de compromissos, na qual nos perdemos continuamente e assim reafirmamos a nossa necessidade das palavras dos outros, e a obrigatoriedade de decidir quais são, de entre estas palavras, aquelas que nos são caras. Em terceiro, Cavell define o casamento como uma instituição especializada, o que permite que, por mais problemas que o casal passe, que coloque inteligentemente as questões em si mesmos e não na instituição do casamento em si. Por último, a questão do casamento envolve trocas no género dos personagens. Também Mr. Deeds procura a sua identidade, e é nesse sentido que Cavell o associa às personagens femininas da comédia do recasamento, e que o identifica como o sujeito da região feminina do ser, comum ao homem e à mulher. Mas em Deeds é sobretudo evidente, como é em Philadelphia Story, o risco que correm as personagens destes filmes, e a importância da sua superação. Correm o risco do snobismo, e por isso têm que ser humilhados, têm que reconhecer a sua humildade, o que não é senão dar-lhes a oportunidade do auto- conhecimento. Esta envolve sobretudo a desobediência, que vem sendo anunciada como resultado da nossa inquietude moral. Mas, para Cavell, esta é a forma de reconhecer o nosso caminho no sentido do “unattained but attainable self” de Emerson. É o caminho no sentido de ser sem finalidade, totalmente de acordo com a ontologia não teleológica que Cavell abordava em The World Viewed. Podemos concluir por dizer que o recasamento nos liga da ontologia à ética no sentido em recasamento afirma, simultaneamente, a procura da educação, a metamorfose da mulher como criação do humano, de um humano melhor, e o recasamento como reafirmação da comunidade. O cinema é assim a expressão dos problemas mais profundos da filosofia moral, e transpõe-nos para o quotidiano, onde nos são comuns, dando assim forma às questões que a filosofia, na sua profissionalização, talvez esteja a abandonar cedo de mais. “A afirmação implícita é que o cinema, a última das grandes artes, mostra que a filosofia é muitas vezes o companheiro invisível das vidas ordinárias que o cinema está tão apto a captar”. 35
2. Aquilo a que a Fotografia Chama o Pensamento
Este capítulo foi inicialmente pensado para responder ao convite do Graz (Austria)Photography Symposium, que teve lugar em Outubro de 1984, e foi lá apresentado numa diferente versão. Aos participantes no simpósio era pedido que falassem sobre as suas abordagens pessoais ao medium da fotografia, sob o título, e com a seguinte grafia: O PODER (e a glória) DA FOTOGRAFIA. A isso se deve o eco das palavras deste título no decurso dos meus comentários.
Naquilo que publiquei até agora sobre a fotografia (The World Viewed, 1971, re- editado em 1979, Pursuits of Happiness, 1981, e Themes Out of School, 1984) interrogo-a sobretudo através do movimento, da base fotográfica do cinema, e por aqui continuarei a minha abordagem. Começo com determinadas ideias, que explorei recorrentemente, ligadas à relação da fotografia com a realidade. É à volta de algo como a relação com a realidade – como da mente com o mundo – que algumas frases feitas na moda sobre o poder da fotografia se têm vindo a formar. Alguns exemplos notáveis e, na minha opinião, vazios, são frases feitas como “As fotografias mentem sempre” ou que “A Fotografia alterou a forma como vemos.”
Dizer que as fotografias mentem implica que elas possam dizer a verdade, mas a beleza da sua natureza reside exactamente no facto de não dizerem nada, seja mentira ou não. Então, que objectivos podem ser cumpridos, ou disfarçados, com a tentativa de negar de forma tão óbvia um facto, na tentativa de atribuir significado a esse vazio? Se o propósito é contrariar aqueles, reais ou imaginários, que rudemente reivindicam que as fotografias nunca mentem, então a oposição apenas substitui o Idiota da Aldeia pelo Explicador da Aldeia. Deve haver um propósito mais atractivo. Acredito que o mote serve para cobrir um impressionante leque de ansiedades centradas ou sintomáticas do nosso sentimento do pouco que sabemos sobre aquilo que a fotografia revela: de que não saibamos qual é a nossa relação com a realidade, o nosso envolvimento nela; de que não saibamos como ou o que sentir sobre estes acontecimentos; de que não percebamos os poderes transformativos específicos da câmara, aquilo a que chamei a sua violência originária; de que não possamos antecipar o que ela saberá de nós – ou mostrará de nós. Estes assuntos serão abordados conforme prosseguirmos.
Aqueles que dizem que a fotografia alterou a forma como vemos, tipicamente, e segundo o que tenho percebido, vêem isto como uma coisa boa, uma coisa que faz os modernos como nós ficarem excitados, sobre a qual se pode especular. On Photography, da Susan Sontag, destaca-se em relação a esta linha de pensamento ao considerar as mudanças introduzidas pela fotografia como sendo uma coisa má, algo a deplorar, apesar dos elogios que lhe possam ser feitos. Mas dizer que a fotografia alterou a forma como vemos atinge-me como se fosse o reverso da verdade. Esta ideia não explica o poder da fotografia mas assume-o. A fotografia não se poderia ter impresso tão imediata e pervertidamente na mente europeia (incluindo a americana) se essa mente não tivesse reconhecido, ao mesmo tempo, na fotografia, a manifestação de algo que já lhe tinha acontecido. O que aconteceu a esta mente, tal como aos acontecimentos estão registados na filosofia, é a sua queda no cepticismo, juntamente com os seus esforços para se recuperar, acontecimentos gravados de várias formas em Descartes e Hume e Kant e Emerson e Nietzsche e Heidegger e Wittgenstein. A palavra cepticismo exprime, na forma como a uso, uma nova, ou uma nova realização da, distância humana em relação ao mundo, ou uma retirada do mundo, que a filosofia interpreta como uma limitação da nossa capacidade de conhecermos o mundo; é o que os Românticos interpretam como a nossa morte para o mundo, que acreditam que a filosofia ajuda a sustentar, e consequentemente não está em posição de ajudar à sua cura. Porque é que o cepticismo irrompeu na mente quando e como irrompeu, que sucessão de disfarces assume, quais os papeis que têm, por exemplo, na Nova Ciência, na substituição dos reis, na morte de Deus, são questões que suponho abertas à resposta histórica. Encontro estas questões do cepticismo totalmente em jogo na tragédia shakespeariana. É talvez o tema principal de The World Viewed que o advento da fotografia exprime esta distância como o destino moderno de se relacionar com o mundo vendo-o, adquirindo visões dele, como se estivesse por detrás do sujeito. É Heidegger que lhe chama distância; Thoreau pensa nisso como o esquecimento daquilo a que chama a nossa contiguidade12 com o mundo; Emerson precedeu Thoreau e Heidegger ao chamar à contiguidade com o mundo a nossa proximidade 13 em relação a ele; Kierkgaard e Wittgenstein dizem, em contextos diferentes, que estamos “longe”; outros falam de alienação. Uma vez que, para mim, a filosofia ainda está – como os nomes Heidegger e Wittgenstein pretendem sugerir – a tentar encontrar o seu caminho nesta questão do cepticismo, e uma vez que para mim a questão da fotografia está ligada com a questão do cepticismo, não considero nenhuma proposta que ilumine uma sem iluminar a outra. Tomo assim as frases feitas sobre a mentira da fotografia, e o seu alterar da forma como vemos, como fragmentos de um momento pré-cartesiano ou pré- kantiano ou pré-heideggeriano de surpresa filosófica ou excitação em relação à vulnerabilidade humana, ou, diga-se, à finitude. Podem ter valor na afirmação dos retrocessos da questão da fotografia, mas na sua seriedade vazia parecem- me esforços para fugir à questão daquilo que a fotografia é. Estou inclinado para caracterizar esta questão perguntando em que pensa a fotografia – como perguntei, em relação ao texto literário e cinemático, o que o texto conhece de si mesmo. Estou consciente de que estas formas de falar são consideradas bastante ofensivas ou provocadoras. Estes assuntos são, hoje em dia, por vezes referidos como a textualidade do texto, ou a sua auto-referência. No meu caso, por vezes falo do auto-reconheciemnto do texto, e por vezes do seu reconhecimento dos outros, de mim. Não tentarei providenciar nenhuma base que permita escolher entre estas descrições. Pode ajudar dizer-se que ao expressar a minha intuição sob a forma “O que conhece o texto de mim?” não pretendo dar conta de nada pessoal. Por exemplo, o fotográfico diz-me que eu sou sujeito, inerente mas impessoalmente, de uma espécie de alucinações. Ao escrever em The World Viewed sobre a base fotográfica dos filmes disse que o cinema propõe-nos uma relação artística insólita entre a presença e ausência dos seus objectos. Numa fotografia vemos coisas que não estão, realmente, à nossa frente. Podem sentir que eu estou a negligenciar o óbvio facto de que o que vemos ser uma fotografia, que está à nossa frente. Mas eu não o nego. Estou, pelo contrario, a pedir que se pergunte o que é que isso significa, o que é uma fotografia, e sinto que se está a perder a sua estranheza, a falhar no reconhecimento, por exemplo, de que a relação entre a fotografia e o seu sujeito não encaixa no nosso conceito de representação, em que uma coisa vale pela outra, ou uma ganha a aparência da outra. Quando vejo aquela criança na fotografia do grupo de alunos que posa no exterior da escola primária rural, aquele que posa exactamente em frente do seu professor Wittgenstein, eu sei que a criança não está lá, onde eu estou; e, porém, ali está ele, o seu braço direito ligeiramente dobrado, o seu colarinho algo amarrotado. Como é óbvio, pode-se apontar para uma figura, talvez mesmo a de essa criança, numa pintura, mas acho que toda a gente iria sentir que as palavras são ditas com um espírito diferente em relação a uma representação visual e em relação a uma transcrição visual, uma diferença que regista o facto de que na tomada da fotografia o objecto teve um papel central completamente diferente do seu papel na feitura da pintura. Uma representação enfatiza a identidade do seu sujeito, e assim pode ser chamada de semelhança; uma fotografia enfatiza a existência do seu sujeito, gravando-o; assim pode ser chamada uma transcrição. Também pode ser pensada como uma transfiguração. Aqui está um dos sentidos da glória da fotografia, talvez devido ao seu poder, talvez à sua impotência. É porque vejo o que não está diante dos meus olhos, porque os nossos sentidos se satisfazem com a realidade, enquanto que essa realidade não existe, que em The World Viewed chamo ao cinema “uma imagem em movimento do cepticismo”. Esta versão da alucinação não é exactamente louca mas sugere, tal como o cepticismo, a minha capacidade para a loucura (nas últimas páginas de Câmara Clara, Roland Barthes reconhece uma intuição da desordem como a possibilidade normal da experiência do fotográfico).
*
Disse que ia proceder levantando a questão do fotográfico primeiramente através das imagens em movimento, não das imagens fixas (do que se veio a chamar) fotográficas. O filme principal que vou interrogar em relação ao pensamento que tem de si próprio é Mr. Deeds Goes To Town, de Frank Capra (1936, com Gary Cooper e Jean Arthur). Escolho este exemplo por duas razões gerais. Em primeiro lugar, porque é mesmo o tipo de filme popular americano sobre o qual parece mais paradoxal falar de auto-reflexividade, e pode assim servir para nos fazer indagar se sabemos o que o conceito de popular significa quando aplicado à arte do cinema. Em segundo, e uma vez que os escritos de Capra sobre o seu filme são tão simples, sentimentais e, deixem-me dizer, não- intelectuais, quanto ele parece desejar que sejam os seus espectadores, este filme aparentemente simples, sentimental e não-intelectual pode servir para enfatizar a ideia de que não estou a falar do homem, Capra, mas do poder e glória de um médium, do que conhece de si mesmo (que este homem, Capra, acabe por ser um mestre em deixar que este médium se mostre a si mesmo pode eventualmente forçar-nos a rever a nossa ideia de quem “o homem Capra” é.) Vou trabalhar os filmes do Capra começando por ilustrá-los de forma breve, pegando em dois pares de filmes ligados entre si, os tipos de revelação do médium que espero encontrar em qualquer filme significante – um filme significante é precisamente aquele na base do qual tais revelações do médium são mais significantemente realizadas. É claro que este processo de revelação mútua, entre um trabalho e o trabalho de um médium, sendo hermenêutica é circular, global.
O primeiro par de filmes são o primeiro e o último dos sete filmes que, em Pursuits of Happiness, defino como o género a que chamo “a comédia do recasamento”. No último, Adam’s Rib (realizado por Georges Cukor em 1949, com Katherine Hepburn e Spencer Tracy), uma das sequências iniciais consiste no visionamento de um home movie. O filme-envoltório, sofisticado, relaciona- se com o filme-envolvido, caseiro e primitivo (primitivo mas complexo, como um jogo de linguagem wittgensteiniano), de tal forma que demonstra a coincidência próxima, mas não total, dos dois filmes: os limites dos seus enquadramentos, nos reenquadramentos, movem-se perto uns dos outros sem coincidirem totalmente, criando um efeito tão complexo e revelador quando os momentos semelhantes em O Homem da Câmara de Filmar de Dziga Vertov (1929); partilham os principais actores e personagens, e um personagem e actor secundário; terminam no mesmo cenário e com a mesma conclusão (uma casa no Connecticut da qual tinham acabado de pagar a hipoteca). As diferenças entre o filme-envoltório e o envolvido – para além dessa relação em si, que permanece por esclarecer totalmente, e para além do facto de o envolto ser mudo e o envoltório ter som, outro assunto que fica por esclarecer totalmente – parecem ir um bocado mais longe que uma questão de estilo (o que não quer sugerir que o estilo seja um assunto claro, mas meramente que ele não é tudo). As semelhanças e diferenças entre o filme maior e o menor geram uma longa história filosófica, mas no fim desenho a partir dessa história uma moral curta, multipartida: o acontecimento do filme em si é o acontecimento cinemático fundamental, não é o que o realizador faz ao acontecimento, não é, por exemplo, a questão de ter sido composto em continuidade ou em descontinuidades, que pareceram em tempos as questões estéticas fundamentais do cinema; a significância estética de um determinado filme é uma função da forma como, e do nível em que, ele revela ou reconhece este facto da sua origem no médium do cinema; a descoberta total da significância de um médium artístico, nas revelações e reconhecimentos das suas obras significantes, só seria conseguida através da história completa de uma arte, quero dizer, por uma arte exaustiva, supondo que existia tal coisa.
A primeira das comédias do recasamento, It Happened One Night (realizada por Capra em 1934, com Clark Gable e Claudette Colbert) especifica “o acontecimento do filme em si” como um acontecimento de censura. É assim que leio o adereço mais famoso do filme, o cobertor pendurado numa corda posta entre duas camas num quarto de hotel para dividir o espaço entre o homem e a mulher. A definição desta divisão entre o espaço masculino e o feminino depende de duas ideias: primeiro, a ideia de se tomar o cobertor como uma alegoria do funcionamento do ecrã de cinema – esconde a presença da mulher enquanto regista continuamente a sua presença causalmente através da sua voz e dos sopros e ondas que os seus movimentos imprimem no rectângulo vertical de tecido; segundo, a definição depende de se aceitar a pertinência, relacionada com a resultante limitação e transgressão do conhecimento, de se invocar a ideia kantiana das limitações e transgressões necessárias à razão humana no estabelecimento da presença e ausência do mundo. É mais uma vez uma longa história filosófica criada por estas asserções, mas a curta moral dupla que desenho desta história é que o efeito da censura (como em todo o lado) não é banir mas deslocalizar e ampliar o sentido do erótico; e que a narrativa do recasamento é uma enumeração, ou antes uma re-enumeração, daquilo a que se chama na tradição inglesa da filosofia o problema das outras mentes, tal como é estudado na parte final do meu The Claim of Reason.
Esta moral dupla enfatiza as seguintes questões de método na forma como me aproximo do estudo do cinema. Aquilo a que se pode chamar a importância estética de um filme como It Happened One Night – uma certa importância cultural que pode ser medida por ter recebido mais prémios da Academia que qualquer outro filme anterior – não é assegurada pela sua posição dentro do género das comédias do recasamento, nem por conter um elemento que pode ser entendido como a alegoria do funcionamento do ecrã de cinema, nem por suportar uma comparação com o projecto da Crítica da Razão Pura. A condição do poder estético do filme, tal como o exercício de qualquer poder humano, não pode ser conhecida antes de um determinado criticismo, ou antes crítica, desse poder, e a convicção na arquitectónica da crítica – a satisfação com o posicionamento de conceitos na estrutura de importância – não é obtida se afastada da sua aplicação em casos individuais. As ciências chamam a tal aplicação experimentação; as humanidades chamam-lhe crítica. Se dissermos que aquilo que organiza ou anima os resultados da experimentação é o discurso matemático, então podemos dizer que aquilo que organiza ou anima os resultados do criticismo é o discurso filosófico, e talvez continuar e considerar o seguinte: um físico pode permitir-se confiar no som de uma peça de matemática de uma vez por todas, e independentemente da sua habilidade para derivar as matemáticas; é esta a natureza da convicção matemática, ou prova. Pelo contrário, um crítico não pode deixar para os outros a derivação da filosofia que invoca, porque essa filosofia ou deriva tal crítica em cada acto de criticismo, nova a cada dia, ou então é intelectualmente inanimada, morta, à disposição das modas (aqui como em todos, um dos melhores usos do julgamento filosófico é descobrir e pôr de parte filosofia inútil e invasiva).
*
O segundo par de filmes que refiro para a definição da revelação do médium fotográfico feita por uma obra começa com o membro possivelmente central do género da comédia do recasamento, The Philadelphia Story (realizado por Georges Cukor em 1940, com Cary Grant, Katherine Hepburn e James Stewart). A superfície narrativa do filme tem que ver com um jornalista e uma fotógrafa que, através da chantagem de um editor pouco escrupuloso de uma revista sensacionalista semanal (uma que faz da má-língua notícia e da notícia má- língua – toma como modelo a revista Time), se introduzem numa residência da classe alta para escrever uma história sobre um casamento que terá lugar por detrás das normalmente impenetráveis portas desta casa. O filme acaba com a cerimónia do casamento quase a começar; quando acontece, os três principais apresentarem-se diante do padre. Vindo do nada surge o editor sem escrúpulos e interrompe a cerimónia tirando ele mesmo a fotografia do casamento. O filme termina assim com os acontecimentos seguintes. Com o click da máquina do editor, o trio instintivamente levanta a cabeça na sua direcção e os seus rostos surpreendidos são fixados.
É como se fosse isso que a câmara capturasse, um gesto que sugere que a fotografia não pode ser natural, que qualquer câmara impõe necessariamente no seu sujeito as suas próprias condições de captura, e isso estabelece uma identificação entre a máquina do editor e os seus motivos com a máquina deste filme. Depois, essa fotografia torna-se uma página que, quando virada, revela uma segunda fotografia, na qual Cary Grant e Katherine Hepburn aparecem sozinhos, a beijar-se, longe do alcance de James Stewart. Em Pursuits of Happiness leio o significado da viragem para a imagem fixa deste modo: independentemente de como entendamos a proveniência destas fotografias de casamento – seja como páginas de revista, ou momentos de um álbum de casamento, ou como imagens de produção – a sua fixidez fotográfica, no contexto das imagens em movimento, é chocante. Parece que “estamos a ver algo depois de ter acontecido, uma vez que não estivemos, mesmo agora, presentes no casamento?... Qual é a diferença [entre movimento e fixidez]?” A questão fundamental na relação entre imagens fotográficas em movimento e fixas não era uma questão para a qual eu estivesse preparado para pensar em profundidade. Deixo-a fugir assim que defino a sua função neste filme, nomeadamente que nos faz questionar a ilusão da nossa presença perante estes acontecimentos, e nos conduz a questionar a natureza da ilusão dramática. Por seu lado, relaciono isto, como relaciono outros momentos do meu livro, com uma problemática do romance shakesperiano, neste caso com o estudo extensivo que faz Shakespeare da audiência. Para avançar nesta ideia, gostava de emparelhar The Philadelphia Story com o filme Sweet Movie, realizado por Dusan Makavejev em 1971. Uma boa forma de resumir este imensamente complexo trabalho, que combina materiais e métodos documentais e de ficção, é dizer que é uma meditação psicológica- psíquica-filosófica sobre dois temas: primeiro, uma destruição progressiva e mútua da reclamação da verdade e da reclamação da fantasia que nos deixa vulneráveis para acreditar num e deixarmo-nos guiar pelo outro – como se a confusão entre notícias e mexericos, retratada em The Philadelphia Story como um sinal de mau-gosto por oposição a uma sensibilidade cultivada, se tivesse tornado um assunto global de malícia intelectual e emocional; em segundo, é uma meditação no título da canção que pontua a sequência de abertura do filme, “Há vida depois do nascimento?”. O filme é pontuado por, ou antes organizado em redor de, imagens e ideias de nascimento, e de renascimento, como se fossem a exumação de enterrados prematuramente – podem ser o sufoco das camas de açúcar com que as metades americana e russa do globo escondem os falhanços das suas revoluções; ou podem ser o desenterrar das sepulturas em massa dos oficiais polacos massacrados na Floresta de Katyn; ou as cerimónias da comuna radical de Muehl em Viena, providenciando uma nova e vigorosa infância para o inchado corpo adulto de um dos do seu grupo. É como se o filme perguntasse: existem formas de pensar, uma linguagem, que sirva para falar de tais coisas de uma forma útil, não venenosa? (tenho em mente, como é óbvio, a este respeito, a formulação de Wittgenstein “Imaginar uma linguagem é imaginar uma forma de vida” – implicando que a filosofia tem aqui algo a aprender, uma vez que tende a imaginar a linguagem como morta, já não falada). Makavejev pondera sobre estas questões pela subjugação do seu filme a elas, fazendo-o perguntar a si próprio se cria vida ou morte. O auto-questionamento é exemplificado e confrontado na sequência final de Sweet Movie, um dos mais belos e lúcidos reconhecimentos que já vi sobre o poder e glória do cinema. A sequência final abre, colorida de um azul monocromático, com cinco corpos embrulhados em mortalhas de plástico e deitados organizadamente na margem de um rio. Chegaram lá através de surpreendentes encontros de circunstância que não podem agora ser retraçados. Os corpos embrulhados começam a mover-se, e os seres humanos que sabemos lá estar dentro, chamem-lhes os actores, começam a sair destes sudários ou casulos, exumando-se ou metamorfoseando-se. A figura mais próxima de nós acaba por ser o rapaz que tinha sido o objecto principal de uma dança de sedução feita por uma mulher que, no retrato de Makavejev, serve como alegoria das fases da imaginação da revolução russa. O rapaz vira a cabeça para nós, olha através de nós, como para a câmara invisível, e imediatamente a imagem se imobiliza e o seu olhar é assim preservado. Gradualmente, a tonalidade azul esvai-se e a cor volta ao quadro, e assim acaba o filme. Formalmente, este final é uma meditação sobre as propriedades da cor no cinema, ou na sua ausência, e sobre o som ou a sua ausência. O fruto da meditação é produzido pela interpretação das mortalhas de plástico, ou sudários, enquanto figuras visuais para as tiras de película. Assim, o rapaz a olhar para fora do ecrã, a meio exumado do seu casulo de filme, torna-se Makajevev a permitir a confrontação da sua juventude com o adulto em que se tornou – tocado pelo horror do mundo no qual agora trabalha e com o qual assim consente – e a colocar a questão de se o seu filme produz vida ou morte. O regresso da cor declara que ele toma o lado da vida, mas a imobilidade e o silêncio do quadro ameaçam essa resposta.
O par de imagens fixas e silenciosas com que termina The Philadelphia Story são de um mundo diferente, mas o sinal da morte está ainda assim presente, em arcádia. Pursuits of Happiness não insiste nisto mas pergunta se não há “uma suspeita persistente de que a fotografia do trio seja já uma espécie de fotografia de casamento?” – de que de alguma forma, como Edmundo diz desvairadamente nos momentos finais de Rei Lear, “Eu estava comprometido com ambas. Agora casam os três num ápice”. O que Edmundo quer dizer com o casamento dos três é que ele vai num instante juntá-los na morte. A violência e abrangência da problemática do casamento em Shakespeare, que atravessa as suas tragédias e romances, a violência da sua criação e destruição, também se aplica à comedia do recasamento, uma vez que o casamento é aqui legitimado, autorizado, não pelo estado, igreja, sexualidade ou crianças, mas apenas pela vontade solitária do casal de se escolherem outra vez um ao outro, para que a intriga contenha a consolidação ou ameaça do divórcio. A base desta vontade de repetição acaba por ser o facto de a mulher sentir ainda necessidade de criação (como sentem, de formas diferentes, a Nora de A Casa de Bonecas do Ibsen, ou a Hermione de O Conto de Inverno de Shakespeare), e que pela mesma razão tenha escolhido este homem para ser seu parteiro no seu novo nascimento (ao contrario de Nora; como Hermione, mas sem o mistério total da sua escolha). “A criação da mulher” sugere, no meu livro, uma simultaneidade de projectos: a instituição do casamento por Deus no Génesis, criando a mulher a partir do homem; o movimento feminista; a transfiguração permitida ou imposta sobre mulheres de carne e osso pelo poder de fotogénese da câmara. Penso que a violência da criação da câmara é declarada noutro filme de Cukor, A Woman’s Face (de 1941, com Joan Crawford, Melvyn Douglas e Conrad Veidt), onde o poder do fotográfico pode ser alegorizado pelo poder da cirugia plástica. Uma ideia semelhante é seguida pelo recente Gorky Park (1983), no qual a reconstituição médica de um cabeça sem cara é um símbolo da reconstrutabilidade de um crime, talvez da história em si, e, ao mesmo tempo, do processo pelo qual a câmara preserva a figura humana. Os filmes de terror vão necessariamente apontar para o poder de transfiguração da câmara na sua desfiguração, recriação ou destruição do ser humano. No meu livro, isto mostra como o género dos filmes de terror é adjacente ao género da comédia do recasamento.
*
Depois de mais uma nota introdutória, vou propor a aplicação da participação dos filmes na criação e aniquilação ao frivolamente óbvio, quero dizer, ao aparentemente frívolo, Mr. Deeds Goes To Town.
A participação da fotografia na morte – como se para preservar o seu sujeito a fotografia o remova da vida, o coloque numa vitrina, como um troféu – é uma ideia que aflorou sempre The World Viewed e para a qual posso ter sido encaminhado pelo que li de André Bazin, com a sua ideia recorrente do fotográfico como um tipo de máscara de vida do mundo, a irmã da máscara de morte. Ocorre predominantemente quando noto que o fotográfico fala dos seus sujeitos humanos como abstraídos do futuro que os aguarda, assim como encarando cegamente a morte, uma condição retratada com uma particular lucidez nos planos de felicidade sem pose, em que a fugacidade metafísica de tais instantes marca os seus sujeitos com a vulnerabilidade para a morte; e termino o livro com uma visão do mundo visto – o mundo fotografado – como o mundo da minha imortalidade, o mundo sem mim, reconfortante na promessa de que sobreviverá sem mim, mas perturbador na sugestão de que o facto de eu estar no mundo é já uma coisa do passado, como uma estrela morta. Escritores românticos como Coleridge e Wordsworth, Emerson e Thoreau querem acordar-nos para a nossa convicção em tal visão, e libertar-nos dela. E contudo a nossa nostalgia agrava-se. A memória, que nos devia preservar, devora-nos. Temos que, como Thoreau disse, olhar para outro lado (gostaria de citar, a este respeito, “Níveis do Visível: a cena de morte no cinema” de Garret Stewart, em Mosaic XVU/1-2, que estuda a apresentação da morte no cinema em relação com estudos recentes da apresentação da morte na narrativa escrita. A ideia da morte do mundo ocorre em choque com as ironias vulgares de abordagens como as da série de cinema Planeta dos Macacos e da série de televisão Buck Rogers in the Twenty-Fifth Century.)
Tendo deixado muito por desenvolver os assuntos da imobilidade e do movimento, os momentos que descrevi de The Philadelphia Story e de Sweet Movie sugerem que a imobilidade enfatiza a morte na existência mortal, enquanto que o movimento enfatiza a vida que ela tem. Enquanto estes ênfases não negarem que falam ambos do mesmo mas de formas particulares, não vem daí nenhum mal teórico, e até pode vir muito bem. Analisando Mr. Deeds concentro-me num atributo da mortalidade humana que o movimento das imagens fotográficas em movimento não pode deixar de captar. Pode ser o atributo mais trivial dos seres humanos que pode existir, o facto de eles serem mais ou menos nervosos, de que o seu comportamento seja ansioso. Este facto da vida humana torna-se na prova conclusiva citada por Mr. Deeds (Gary Cooper) na sua defesa em tribunal contra a alegação de loucura. A sua interpretação vitoriosa desta prova provoca a felicidade social em geral e fá-lo ganhar os beijos eufóricos da sua distante amada, com os quais o filme termina. Que tais proposições absurdas possam ser usada para ilustrar, ou até para explorar, subtilezas filosóficas, faz certamente parte do meu fascínio com os chamados filmes populares. Sobre o enredo do filme, tudo o que direi antes de vermos alguns momentos desse julgamento é que Deeds foi preso por tentar doar a sua súbita herança de $20,000,000, arguindo os advogados – que têm interesse no dinheiro – que o seu comportamento mostra que é mentalmente incapaz. Também acabou de descobrir que a mulher por quem se apaixonou é uma jornalista que, usando os seus sentimentos por ela para escrever uma série de notícias sensacionalistas, levou ao ridículo a sua espontaneidade, atribuindo- lhe a alcunha de “The Cinderella Man”. Num hospital psiquiátrico, retirou-se para o silêncio.
O julgamento preenche os últimos vinte minutos do filme, e começa com o Gary Cooper continuando o seu silêncio, recusando-se corroborar com um mundo que o ridicularizou erótica e politicamente, e que o prendeu pelas suas fantasias utópicas. O que o faz voltar a falar, o que quer dizer, narrativamente, o que o leva a defender-se, é uma óbvia questão crítica. Uma questão menos óbvia diz respeito à inclusão do filme de Capra no género do melodrama, do qual a mudez é um sinal, e no qual a quebra do silêncio é uma declaração climática de identidade pessoal e confronto com a vileza. É uma imagem de êxtase ou exaltação assim expressa como o poder e a vontade de comunicar a sua presença, de fazer com que a sua existência tenha importância, de ser levado a sério (a ênfase na mudez e na auto-revelação está entre as muitas descobertas do importante estudo de Peter Brook The Melodramatic Imagination, 1976). Menos óbvio ainda é o que é que a ansiedade da câmara tem a ver com isto.
Mr. Deeds apela ao nervosismo como um atributo humano universal, se não propriamente normal, defendendo-se assim do facto de tocar tuba a horas estranhas, uma prática alegada pela acusação e pelas suas testemunhas como uma prova evidente de loucura. A defesa de Deeds é que o facto de tocar tuba é a sua versão daquilo que todos os seres humanos fazem em condições universalmente recorrentes. A outra versão que cita de tais comportamentos são os tiques (um homem que torce compulsivamente o nariz, uma mulher que estala os dedos) e escrevinhar (fazer desenhos sem propósito, preencher os O). Eu digo que ele “cita” estes comportamentos, mas na verdade o seu discurso torna-se uma espécie de narrativa em voz off enquanto a câmara ilustra cada um destes movimentos involuntários em grande plano, como se estivesse a alinhar provas na defesa do caso de Mr. Deeds. Concretamente, as provas não são para os juízes e para os espectadores, para quem os grandes planos são invisíveis, mas para nós. Ele cita dois exemplos sem ilustração fotográfica – puxar as orelhas e roer as unhas – como se declarasse que o acto de fotografar é deliberado. Isto sublinha a aliança de Deeds com a câmara. É o seu reconhecimento de que permitir tal ilustração ou prova é um poder e possível glória natural da câmara de cinema, de que as aparentemente insignificantes repetições, reviravoltas, pausas ou gentilezas dos seres humanos são para ela tão interessantes quanto a beleza ou a ciência do movimento.
Pensem neste interesse ou poder como o conhecimento que a câmara tem da inquietude do corpo humano no seu repouso, algo intrínseco ao que Walter Benjamin chama o inconsciente óptico do cinema. Sob o exame da câmara, um corpo humano torna-se para o seu habitante mais um campo de traição do que um meio de comunicação, e o consequente poder da câmara manifesta-se na sua documentação dos esforços auto-conscientes do individuo em controlar o seu corpo de cada vez que se torna consciente da atenção da câmara. Vou chamar a estas captações somatogramas (cf. cardiogramas, electroencefalogramas) de forma a dar conta da relação essencial entre o padrão de movimentos do corpo humano e os movimentos da máquina que os captura. Parece que não temos nenhuma específica para aquilo que os somatogramas capturam. “Maneirismo” favorece a noção de repetição de comportamento característico; “maneiras” favorece a atenção às modificações sociais. Freud usa a palavra Fehlleistimg (normalmente traduzida por parapraxis) para caracterizar algo como o tipo de comportamento que tenho em mente, mas os seus exemplos são mais selectivos que os meus pretendem ser. A simples palavra “comportamento” tem a generalidade necessária, mas é ainda imprevisivelmente marcada pelas sensibilidades psicológicas e filosóficas do behaviourismo – no qual o comportamento é reduzido a algo exterior, a partir do qual algo interior (chame- se-lhe a mente) foi extraído – a expressividade do âmbito da inquietude é mais ou menos incompreensível.
O ensaio de Emerson intitulado “Comportamento”, retirado de A Conduta da Vida, é um esforço para reabilitar este conceito de comportamento, bem como o das maneiras, para devolver a mente ao corpo vivo. Aqui fica um exemplo:
A Natureza conta cada segredo uma vez. Sim, mas no homem ela deve contá-lo todo o tempo, pela forma, atitude, gesto, aspecto, cara e partes da cara, e pela inteira acção da máquina. À postura visível ou acção do indivíduo, resultantes da combinação entre a sua organização e a sua vontade, chamamos maneiras. O que são elas senão o pensamento a entrar pelas mãos e pés, controlando os movimentos do corpo, o discurso e o comportamento?... O poder das maneiras é incessante, - e um elemento tão inconciliável como o fogo.
O esforço de Emerson de reabilitação conceptual transforma este maravilhoso ensaio numa importante contribuição para a estética do cinema (bem como para a estética da representação no teatro, uma coincidência dificilmente acidental). O Mr. Deeds tem um nome concreto para a condição que causa a ansiedade universal. O seu nome para isso é pensar. “Toda a gente faz coisas tontas quando pensa”, diz. Usa a palavra “pensar” ou “pensamento” repetidamente, e de cada vez enfatiza que cada individuo faz algo idiossincrático quando está na condição de pensar. Porque inclui a tuba como parte do seu somatograma particular – e não, diga-se, como parte do seu perfil enquanto um americano aspirante a músico ou artista – é, claro, uma questão a desenvolver. Mas quero ficar com a questão que temos à mão: como é que o Deeds foi levado a quebrar o seu silêncio para falar da ligação entre o pensamento e a imobilidade? O que é que o fez ter vontade de reclamar a sua identidade, a sua contribuição para a sociedade e a sua felicidade pessoal contra a incompreensão vil da parte do mundo?
A minha resposta depende de darmos à sua invocação do conceito de pensamento uma grande seriedade filosófica que alguns não estarão preparados, para já, a atribuir-lhe. Atribuí à percepção de Deeds da ansiedade a revelação de uma propriedade essencial do corpo, não apenas animal, mas humano; atinge uma criatura na qual o corpo e alma nem sempre se encaixam. (Quero deixar em aberto a questão de saber se isto é verdade das criaturas humanas em si, ou se diz apenas respeito aos homens da nossa época, e é especialmente verdade daquelas criaturas do período capitalista definido pelo programa social de redistribuição de Deeds, aquele em que um grande número de pessoas evidentemente esforçadas, altruístas, e independentes são desnecessariamente privadas daquilo que necessitam para poderem ganhar a vida. “Necessidade” é outro dos termos recorrentes do discurso de Deeds. O seu termo para aqueles que não desejam trabalhar é “moochers”14; ele aplica indistintamente este termo). Apontei a ideia de que a ansiedade acompanha sempre o pensamento para dizer que ela prova o pensamento, ou o desejo de pensar, o qual, diz Heidegger, é essencial à possibilidade de pensar. É a relação do pensamento com o desejo humano do possível, da realização, que me faz ver nas palavras de Deeds, e na forma como as usa, uma reposição no quotidiano da percepção que em Descartes prova o pensamento em si, nomeadamente a existência do humano. Então, quando Deeds começa a falar, para defender a sua sanidade, está a performatizar, atingindo o clímax que se espera numa estrutura melodramática, uma versão do cogito descartesiano, apresentando a prova da sua própria existência, como se fosse contra a sua negação pelo mundo.
Alguns não quererão atribuir este grau de seriedade ao discurso em tribunal de Deeds sobre os tiques e o pensamento, e poderão querer proteger o seu sentido de seriedade pela sugestão de que as palavras de Deeds são uma paródia da filosofia, e não objecto da filosofia. Eu sou compreensivo em relação a isto. Mas já mostrei algures provas para supor que num determinado momento a filosofia séria pode vir a manifestar-se como – podemos dizer, a existir mais imediatamente como – uma paródia da filosofia. Baseei esta ideia nas adopções, ou adaptações aparentemente parodistas, do argumento do cogito por Emerson e Edgar Allan Poe. Uma vez que a adaptação de Emerson terá um papel directo na minha conclusão sobre o filme Mr. Deeds Goes To Town, faço aqui uma pausa apenas para afirmar a sua observação de que já não somos capazes de anunciar o cogito por nós mesmos, já não somos capazes, como diz, de dizer “eu penso” e “eu existo” por nossa conta, por nós próprios. Isto implica estarmos sem prova da nossa existência, de que estamos, assim, num estado de pré- existência, como se fossemos pessoas metafisicamente desaparecidas. A famosa palavra de Emerson para a falta que temos de palavras que nos sejam próprias é “conformidade”. Tem obviamente antecedentes nas percepções românticas do homem como morto, ou moribundo, e um antecedente conceptual específico no “último homem” de Nietzsche, e assim no Das Man de Heidegger.
Antes que rejeitemos Deeds por lhe faltar a autoridade ou as circunstâncias nas quais assumir o cogito (assuntos essenciais na abordagem de Descartes), é melhor termos a certeza de que sabemos quem este homem é e quais são as suas circunstâncias, conhecê-las tão bem quanto devemos conhecer, por exemplo, quem é e onde está cada um dos narradores de Poe de forma a percebermos como devemos ler os seus contos. Temos de nos decidir se atribuímos a Deeds a autoridade de reconhecer a frase de Thoreau quando diz no princípio do filme “Eles construíram palácios mas esqueceram-se de construir as pessoas para lá viverem”; ou se, em alternativa, lhe retiramos esta capacidade e censuramos a sua pretensão em pronunciá-la. Di-la na sua primeira conversa com a mulher, sozinhos numa noite num banco de jardim, como parte da construção de uma intimidade inicial com ela; momentos mais tarde arranja um momento para fugir dela e saltar para um carro de bombeiros. É com isto que a autoridade filosófica se parece? Não queria deixar de notar que a deixa anterior à frase sobre a construção de palácios também é de Thoreau, mas já não vem assim identificada no guião de Capra: “As pessoas aqui parecem ter a Dança de São Vito” (a limitação de Capra enquanto leitor de Thoreau e Emerson pode-se notar neste caso. Deeds di-lo sobre Nova Iorque, com a ideia de que nas cidades pequenas, como aquela de onde vem, o comportamento é radicalmente diferente. Até mesmo eu teria dificuldades em acreditar que Capra pretende que esta interpretação mostre a limitação do seu personagem Deeds, implicando que ele tem uma perspectiva ainda mais transcendental). A Dança de São Vito é o nome mais familiar de uma doença chamada coreia, que afecta sobretudo as crianças e que provoca uma disfunção temporária do cérebro. No comentário de Deeds (e também na de Thoreau) não é feita nenhuma distinção radical entre a Dança de S. Vito e o comportamento humano (no que se tornou), como se o comportamento humano fosse agora em geral o resultado de danos cerebrais. Quando as duas velhas solteironas, as cómicas irmãs, testemunham em tribunal que não só Deeds como toda a gente, excepto elas próprias, está “enduendado” [pixielated] (enfadado por duendes), descredibilizam o seu anterior testemunho de que Deeds estava louco. Toda a gente acredita que isto mostra que as irmãs são mentalmente incapazes. Mas a única diferença entre a sua visão expressa do mundo e a visão de Deeds é que ele não se exclui, tal como Thoreau não se exclui, da loucura do mundo. Talvez seja a isto que soa a autoridade filosófica. Rejeitar Deeds como demasiado disparatado para o pensamento filosófico é negar-lhe a participação na definição do que é o disparate, uma das suas palavras características. E se lha negarmos, de que forma somos diferentes dos corruptos que o acusam, que exercem uma rejeição análoga declarando-o louco? E como perceberíamos a mudez que prepara a condição, podem dizer a seriedade, do cogito? A mulher que o ama grita que ele está a ser crucificado (Frank Capra, como outros artistas americanos, encontra à mão a figura de Cristo para identificar a postura dos seus heróis. Alguns verão este como um mau hábito incorrigível, talvez da mesma forma que Nietzsche considera os hábitos intelectuais de Lutero rudes). Sem irmos tão longe, a questão mantém- se de saber se damos crédito à dor, ao sentimento de rejeição, de que fala a longa mudez deste herói. A nossa resposta determina a seriedade com que entendemos a seriedade intelectual deste homem. Se a nossa sensibilidade filosófica nos falha neste ponto, pode falhar-nos em todos os momentos, e então são as nossas percepções e o nosso poder de compreensão que se provarão rudes e mudos.
Evidentemente, as minhas questões a respeito da seriedade que atribuímos à seriedade intelectual de Mr. Deeds é uma espécie de alegoria da uma questão mais alargada que abrange saber se atribuímos a Frank Capra a capacidade de empreender uma resposta artística a Emerson e Thoreau. A minha ansiedade a respeito de comunicar tal pensamento com a devida seriedade limou-se e esbateu-se com o tempo: na preparação do capítulo sobre o filme de Capra It Happened One Night para Pursuits of Happiness esbocei a ideia da realização de Capra como incorporando um modo de ver herdado do transcendentalismo americano, ao ponto de, por sua vez, partilhar a herança no transcendentalismo americano da cultura alemã (especificamente, no trabalho de Capra, do cinema expressionista alemão). A ansiedade acompanha o meu conhecimento de que os amantes de filmes americanos tenham entendido os meus comentários como desnecessários e pretensiosos, em conjunto com o meu sentimento de que os estudantes profissionais de cinema não estão muitas vezes preparados para darem crédito a tais relações com o cinema americano, colorida pela minha observação dos filósofos profissionais americanos, para quem, com talvez um número crescente de excepções, tais especulações servem, no máximo, para uma hora intelectualmente insignificante. Desejei que tais rejeições não tivessem tanta importância para mim. Mas penso que se pode ver no trabalho de Emerson, de Thoreau e de Capra, nas suas várias formas americanas, que rejeições análogas tiveram importância para eles. De forma a testar com justiça a questão da seriedade intelectual de Deeds precisaríamos de localizar Deeds naquele tribunal, chegar a ele, derivar a partir dele, exactamente tal como ele acaba por ser derivado a partir dos desenvolvimentos dos caminhos narrativos e cinemáticos, a maior parte dos quais os contornos não poderiam ser aqui delineados. Assim, vou concluir estes comentários voltando especificamente ao caminho do poder e glória da fotografia, partindo da questão sobre o papel que a câmara tem na vontade de Deeds de falar e de reclamar a sua felicidade com a mulher.
Volto a recuperar duas ideias já discutidas. Em primeiro lugar, Deeds vai mostrar a sua percepção de que a câmara de filmar sustenta uma relação com a inquietude metafísica, que tem o seu próprio imperativo de continuar a mover, e em segundo, que a sua percepção é, de facto, uma aceitação da percepção descartesiana de que o humano precisa de provas em cada caso, por cada caso, juntamente com a percepção de Emerson de que somos maioritariamente incapazes de continuar a assumir a nossa existência por nós próprios. E considero que o ponto de vista de Deeds é que o contrário desta prova está disponível através da câmara de filmar, e assim enquanto que o pensamento já não é assegurado pela declaração da presença da mente para si mesma, é agora assegurado pela presença do corpo humano vivo frente à câmara, em particular pela presença daquilo que aparentemente é a última propriedade inteligente do corpo, a sua ansiedade, a sua inquietude metafísica. Em Descartes, a prova do pensamento era que não podia duvidar de si próprio; depois de Emerson, a prova do pensamento é que já não pode ser escondido Estou a dizer que a câmara é necessária para este conhecimento? Descartes afirma que a minha existência é provada “cada vez que eu digo que eu “penso”, ou que o concebo na minha mente”. Devo comprometer-me a dizer que a minha existência é provada (apenas) de cada vez que a câmara se põe no meu caminho? Peço aqui um pouco de liberdade. A minha ideia é que a invenção da câmara de filmar revela algo que já nos estava a acontecer, e assim algo que, quando falhamos em reconhecê-lo, é conhecimento de algo fundamental sobre a nossa existência ao qual resistimos. E a câmara também revela e grava essa resistência – lembrem-se que, no decurso do discurso de Deeds no tribunal, de cada vez que a câmara segue a sua atenção ao movimento do corpo de uma pessoa, os reflexos dessa pessoa são mostrados como se servissem como uma tentativa para esconder o movimento. Podemos pensar naquilo que a câmara revela como um novo esforço tanto para o esquecimento da nossa existência como para um novo modo de certeza em relação a ela.
Se o preço da prova de Descartes sobre a sua existência era uma perpétua recessão do corpo (uma espécie de filosofia contra-renascentista), o preço de uma prova emersoniana da minha existência é uma visibilidade perpétua de si, uma teatralidade da minha presença perante os outros, e assim perante mim mesmo. A câmara é um emblema da visibilidade perpétua. A auto-consciência de Descartes toma assim a forma de um embaraço.
Deeds é o nome daquele que vê o que está em jogo nesta condição alterada e que se submete ao julgamento da câmara, que permite o seu interrogatório – a sua vitimização – de si próprio. É uma inesperada espécie de coragem. Psicologicamente, a submissão a um somatograma – à sincronização entre corpo e câmara – requer passividade, pode-se dizer que requer a visibilidade do lado feminino da nossa personalidade. O domínio de Capra do medium do cinema, ou a sua obediência a este, leva-o a deixar claro que nós temos consciência da beleza da cara do Gary Cooper, e num determinado momento filma-o glamourosamente com a pose de uma estrela feminina, deitado de costas numa cama (acontece estar a tocar tuba, como se isso importasse), capturando todo o seu comprimento a partir de um ponto imediatamente acima da sua cabeça. Cinematicamente, a sua submissão declara aquilo a que chamei a ascendência natural, no cinema, do actor sobre a sua personagem, de forma a que o facto de ser especificamente Gary Cooper que interpreta Deeds vem aqui à frente, como se Capra estivesse a interpretar o embaraço (diga-se a auto- consciência) da prova emersoniana – de que pensar não pode ser escondido – através da capacidade histórico-mundial de timidez de Cooper, e vice-versa, dando uma interpretação metafísica deste modo de timidez americano. Narrativamente, a condição do final feliz de Deeds é que a sua vitimização seja interpretada, ou redimida, como a sua vontade de trocar de papel com a mulher. Nós conhecemos o seu desejo de rapazola pelo romance, o seu desejo de “salvar a donzela em apuros”. Jean Arthur afirma de uma vez por todas a sua superioridade sobre ele no domínio da acção, chamemos-lhe o domínio masculino, quando finge ser uma tal donzela. Ela ridicularizou precisamente este seu desejo ao chamar-lhe “O Homem Cinderella” – ele precisa mais de ser salvo do que está numa posição de salvar. Mas isto, por outro lado, é a expressão da própria condição de romance dela: o seu desejo de descobrir um homem que ela pudesse consolar por este ter estado assustado pelo desejo e ter perdido um sapatinho. No final ele mostra-lhe esta perda, este desejo.
Ele fugiu duas vezes dela, de cada vez num momento em que o seu desejo era inconveniente. Primeiro, como foi dito, quando foge do parque para o carro de bombeiros; depois, elaboradamente, quando ela acaba de ler para ele o poema de amor que ele escreveu para ela, e ele corre pelas ruas escuras, tropeçando violentamente em caixotes do lixo visíveis e invisíveis, num desconfortante solo que regista cinematograficamente a queda de um macho americano apaixonado. No tribunal, o facto de começar a falar é o sinal de que parou de fugir. Reclama o amor da mulher pelo reconhecimento de que o sapato serve, de que ele estava no baile, por assim dizer, de que ele tem desejos e pode pedir-lhe para salvá-lo do seu medo da expressão.
Narrativamente, a vontade do homem em falar, em exprimir o desejo, surge como resposta à declaração da mulher no tribunal, durante o interrogatório, de que ela o ama (um topos hollywoodiano familiar). Penso que podemos ir aqui mais longe, e entender a leitura que faz o homem da declaração de amor desta mulher como um sinal do seu papel como donzela em perigo. Porque, apesar de tudo, ela concede-lhe a ele o seu desejo de salvar, de ser activo, de tomar obrigações sobre si mesmo, de ganhar prestígio; tanto quanto ele lhe concede o seu desejo a ela. Assim, este filme participa, tanto quanto as comédias do recasamento, naquilo a que chamei a comédia da igualdade e da reciprocidade. As palavras com as quais o homem quebrou o seu silêncio foram: “Gostava de pôr aí os meus dois cêntimos” . o que ainda é usado, em calão americano, para dizer que se quer expressar uma opinião. O nosso próximo passo deveria ser considerar porque é que este homem, cuja aventura conta a história da herança e da tentativa de abandonar uma das maiores fortunas do país, tem por fim a vontade de deixar o silêncio e de reclamar a herança da sua própria existência, do seu direito a desejar, falando de falar como um assunto de “dois cêntimos”. É claro que podemos trazer para aqui uma série de suspeitas ideológicas. Acho que o filme também merece a esta linha de consideração.
O direito a falar não só toma precedência em relação ao poder social, como também toma precedência sobre qualquer forma particular de realização; nenhuma forma de contribuição é mais valiosa para a formação e preservação da comunidade que a vontade de contribuir e a ocasião para ser ouvido. Para além disso, ao contrário dos $20,000,000, a contribuição de dois cêntimos pode ser igualmente respondida pelos outros; deixa a sua voz ser sua e deixa que a sua opinião tenha importância para os outros somente porque tem importância para si. Não é uma voz que vá ser ouvida por vilões. Isto significa que para descobrir a nossa a nossa comunidade alguns têm de pontapeados para fora, tornados mudos – uma interpretação da repetida violência de Deeds, de esmurrar os homens no queixo. É uma fantasia de uma democracia participativa relativamente bem organizada. Tem os seus perigos; a democracia tem; o discurso tem. Se a câmara de filmar contribui com o seu carácter único para ajudar a manter esta ideia utópica viva, isto significa que tem poder e glória suficientes para justificar a sua existência, uma contribuição que se situa algures entre os dois cêntimos e a maior fortuna do mundo.
De Stanley Cavell
(1976). Must We Mean What We Say?: A Book of Essays. Cambridge: Cambridge University Press.
(1979). The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality and Tragedy. New York: Oxford University Press.
(1979). The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film (enlarged edn.). Cambridge: Harvard University Press.
(1981). Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedy of Remarriage. Cambridge, MA: Harvard University Press.
(1997). Contesting Tears: The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman. Chicago: University Of Chicago Press.
(2004). Cities of Words: Pedagogical Letters on a Register of the Moral Life. Cambridge, MA: Harvard University Press.
(2005). Cavell on Film. ROTHMAN, William (ed.). Albany: State University of New York Press.
Sobre a Filosofia do Cinema de Stanley Cavell
LAUGIER, Sandra; CERISUELO, Marc (2001). Stanley Cavell, Cinéma et Philosophie. Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle.
MULHALL, Stephen (1994). Stanley Cavell: Philosophy’s Recounting of the Ordinary. Oxford: Oxford University Press.
READ, Rupert; GOODENOUGH, Jerry (eds.) (2005). Film as Philosophy: Essays on Cinema After Wittgenstein and Cavell. Hampshire: Palgrave Macmillan.
RHU, Lawrence (2006). Stanley Cavell's American Dream: Shakespeare, Philosophy, and Hollywood Movies. New York: Fordham University Press.
RODOWICK, D. N. (2007). "An Elegy for Theory". October 121, 99-110.
_____ (s/d). "Ethics in Film Philosophy (Cavell, Deleuze, Levinas)". Artigo não-publicado. URL: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic242308.files/RodowickETHICSweb.htm
ROTHMAN, William; KEANE, Marian (2000). Reading Cavell’s "The World Viewed": A Philosophical Perspective on Film. Detroit: Wayne State University Press.
Outras Obras Citadas
BAZIN, André. (1999). Qu’est-ce que le cinéma? Paris: Cerf.
FRIED, Michael. (1998). Art and Objecthood: Essays and Reviews. Chicago: University of Chicago Press.
PANOFSKY, Erwin. (1997). "Style and Medium in the Motion Pictures". In Lavin, Irving (ed.), Three Essays on Film Style. Cambridge, MA: The MIT Press.